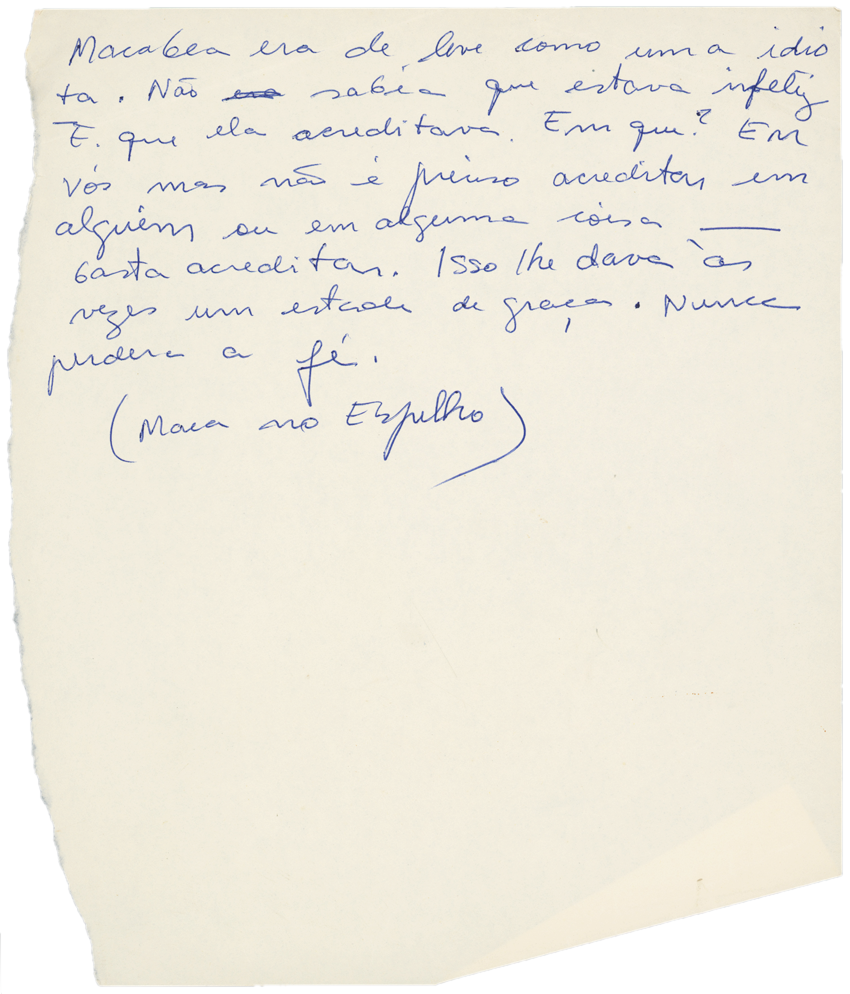| Foi com misto de espanto e desejo que os franceses olharam pela primeira vez para o recém-descoberto Brasil, com sua natureza exuberante, rica do pau-brasil - útil para a indústria têxtil francesa -, e uma vida selvagem de fazer corar os pálidos rostos das nobres francesas. Por um bom tempo, foi assim: fornecíamos o exotismo e eles, a civilidade. Como toda relação que sobrevive ao tempo, ela evoluiu e causou impacto sobre a sociedade brasileira em vários aspectos - a começar pela língua, passando pela filosofia e as ciências humanas, além da moda, da literatura, das artes plásticas, gastronomia, arquitetura, do cinema, da política e da economia. "Em todas as épocas, a França esteve presente em nossa história como sinônimo de civilização e cultura", diz Mary Del Priore, historiadora com pós-doutorado na França e autora de "Revisão do Paraíso: os Brasileiros e o Estado em 500 Anos de História".  Vale do Anhangabaú, em São Paulo, na década de 40: fotografia do francês Pierre Verger integra o calendário "Fotógrafos Franceses em São Paulo", editado pela Imprensa Oficial | | | Neste ano, a aproximação francesa com o Brasil certamente será maior com a programação que marca o Ano da França no Brasil. Entre 21 de abril e 15 de novembro, o país vai receber exposições de artes plásticas, espetáculos musicais e de dança, mostras de cinema, eventos literários e festivais gastronômicos, que deverão expor - e em alguns casos revitalizar - o fascínio que a França sempre exerceu sobre o Brasil. Os eventos culturais, no entanto, não vão ocorrer isolados da agenda político-econômica. Em 7 de setembro, o presidente Nicolas Sarkozy visitará o Brasil pela segunda vez em menos de um ano, um sinal de reestreitamento. Afinal, as relações entre as duas nações são antigas. A Câmara de Comércio França -Brasil, por exemplo, foi criada na virada do século XX e o Instituto de Alta Cultura Franco-Brasileiro, em 1922. | | Ao longo dos anos, porém, a força dessa troca político-cultural se dissipou. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos conquistaram o espaço paradigmático que pertencia à França na economia, na política e na cultura brasileiras, e se consolidaram como a grande referência mundial. "Vivemos a época da cultura anglófona e a colaboração cultural e artística entre Brasil e França é bem menor do que já foi no passado", diz Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia da Universidade de São Paulo (USP). | | | No entanto, apesar de hoje o Brasil ser o grande emergente na principal área de influência dos Estados Unidos, a França é que desponta como aliada nas ambições de sua política externa. O embaixador francês em Brasília, Antoine Pouillieute, é categórico ao afirmar que a França apoia o Brasil em seu objetivo de ter um papel na governança mundial do século XXI.  Rua 3 de Dezembro, no centro de São Paulo, em registro do fotógrafo francês Jean Mazon, que morou no Brasil nos 1940, para onde se mudou quando tinha 25 anos | | A admiração do Brasil pela cultura francesa ganhou peso em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Rio, ela própria fortemente influenciada pelos hábitos e costumes de Paris. Segundo Mary Del Priore, com a abertura dos portos, o Brasil recebeu artistas, cozinheiros, modistas, representantes de indústrias e também emigrados ilustres, vindos da França, o que aumentou a influência por aqui. "A língua diplomática e literária colaborou ainda mais para irradiar sua presença entre nós", diz Mary. A partir dessa fase, na Biblioteca Nacional, os volumes mais consultados passaram a ser os de Alexandre Dumas (1802-1870), Paul Verlaine (1844-1896) e Victor Hugo (1802-1885). | | Nessa época, a França era o modelo para a alta burguesia brasileira, que durante décadas se sentiu quase como uma colônia parisiense. Na maioria das escolas, o ensino do francês passou a ser obrigatório e as ciências humanas brasileiras ganhavam musculatura com o pensamento da terra de Voltaire. Na corte, os cardápios eram escritos em francês. Daquela época foram herdados os molhos maionese, madeira e béchamel, além das técnicas - que vão da maneira de preparar guisados ao estilo de criar molhos. A confeitaria de bolos hoje feita no Brasil também tem suas raízes na França, com itens que nunca saíram dos cardápios, como o coq au vin, o escargot, o croissant e o mil-folhas (mille-feuilles).  O Viaduto do Chá, idealizado pelo francês Jules Martin, é fotografado por seu campatriota Pierre Verger, na década de 40 | | | Outra herança daquele período de hegemonia francesa é a linguagem arquitetônica, uma das que melhor captaram a essência dessa fase. Os traços "à française" encaixam-se, principalmente, em quatro escolas: o neoclássico, o eclético, o art nouveau e o moderno. O necolássico surgiu justamente com a chegada da Missão Francesa, a convite de dom João VI, pouco depois de sua mudança para o Rio. O grupo de artistas foi comandado por Grandjean de Montigny (1776-1850), o primeiro professor oficial de arquitetura no Brasil. Montigny foi o principal responsável por projetos que reproduziam cânones do neoclássico francês, o mais moderno de seu tempo, na corte tropical. Essa inclinação francesa pode ser verificada também em edificações posteriores, iniciadas com a renovação urbana carioca do início do século XX. | | Antes de participar da Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio, entre 1875 e 1876, o então jovem engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913) esteve em Paris para aperfeiçoar-se na prestigiosa École des Ponts et Chaussées. Na mesma época, o barão Haussmann (1809-1891), responsável pela reforma urbana de Paris entre 1853 e 1870, reformulava a capital francesa. "O plano de reformas do Rio fracassou, mas o paisagista Auguste François Marie Glaziou [paisagista bretão] conseguiu transformar o campo de Santana num arremedo do famoso Bois de Boulogne, de Paris", afirma Mary Del Priore. | | | Anos mais tarde, entre 1902 e 1904, já como prefeito, Pereira Passos resolveu criar uma "Paris-sur-mer", respondendo às aspirações de uma elite que desejava dar nova feição ao país. Abriram-se novas avenidas - a imponente avenida Central e o início da Atlântica - e rasgaram-se túneis - como o do Leme -, arrasaram-se cortiços na Cidade Velha e edificaram-se prédios monumentais, no apreciado estilo eclético tão em voga nas capitais europeias. "A ideia era tornar o Rio uma metrópole glamourizada pela decoração, portanto, uma Paris à beira-mar", afirma Mary.  Vista do prédio da Light e do Viaduto do Chá, em São Paulo, em registro de Pierre Verger: exposição com seus trabalhos integra a programação do Ano da França no Brasil | | Enquanto isso, em São Paulo, a elite que enriquecia por causa do café também procurava reproduzir os hábitos franceses. Muitos filhos de fazendeiros ou da burguesia da capital estudavam na França e falavam o idioma. A arquitetura que dominava a paisagem paulistana também tinha sotaque: a Estação Júlio Prestes, a Catedral da Sé e o Palácio Campos Elíseos são exemplos contundentes dessa era. O francês Jules Martin (1845-1935), que idealizou o Viaduto do Chá, e o brasileiro Ramos de Azevedo (1851-1928), que projetou o Teatro Municipal, a Pinacoteca do Estado e o Mercado Municipal, são dois nomes importantes da escola eclética paulistana. Ramos de Azevedo estudou na Bélgica e teve mestres franceses. | | O curioso na apropriação da estética francesa pelo Brasil é que, na década de 40, a força cultural da Europa era tão grande que o país absorveu movimentos franceses que o próprio continente rejeitava. É o caso da arquitetura moderna desenvolvida por Le Corbusier (1887-1965), que orientou vários arquitetos brasileiros, como Lúcio Costa (1902-1998), Carlos Leão (1906-1983) e Oscar Niemeyer. O estilo moderno surgiu logo depois do art déco no país. "Em 1944, o Brasil era uma referência nesse estilo de arquitetura", diz a professora Maria Lucia Bueno, doutora em sociologia e fundadora do mestrado acadêmico em moda, cultura e arte do Centro Universitário Senac. | | Mas um dos pontos mais importantes do movimento modernista no Brasil havia começado anos antes, com a Semana de Arte Moderna de 1922, também de inspiração francesa. A sugestão de realizá-la partiu da francesa Marinette Prado, mulher do mecenas Paulo Prado, que se espelhava na Semana de Deauville. Idealizado por Di Cavalcanti (1897-1976), o movimento teve participação de Tarsila do Amaral (1886-1973), Anita Malfatti (1889-1964), Victor Brecheret (1894-1955), entre outros, que estudaram em Paris, com bolsas patrocinadas pelo governo de São Paulo.  O francês Claude Lévi-Strauss fotografa o carnaval paulistano na avenida São João, no centro da cidade, em 1937 | | | Tarsila é considerada uma das artistas que melhor souberam traduzir essa influência nos movimentos artísticos brasileiros. Construiu seu repertório em escolas e ateliês de Paris, como a prestigiada Academie Julian, e foi ainda uma das primeiras artistas do país a ter quadros expostos na capital francesa. O escritor modernista Oswald de Andrade (1890-1954), um dos articuladores da Semana de Arte, que também viveu na França, chegou a escrever uma referência à francesa no "Manifesto do Pau-Brasil": "Os alfandegários de Santos examinaram minhas malas, minhas roupas. Mas se esqueceram de ver o que eu trazia no coração. Uma saudade feliz, de Paris." | | No início da década de 30, um passo determinante para o fortalecimento desse ideário francês no Brasil foi dado pela escola filosófica francesa, que ajudou a constituir a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a espinha dorsal da USP. Durante quase quatro décadas, o Departamento de Filosofia da USP teve professores franceses remunerados, pelo menos parcialmente, pelo governo da França. | | O peso da cultura do país era tão grande nas salas de aula que os mestres ministravam seus cursos na língua de Flaubert. Entre os professores estavam mitos da intelligentsia europeia, como Gilles-Gaston Granger, Claude Lefort, Fernand Braudel (1902-1985), Lucien Febvre (1878-1956) e Gérard Lebrun. "A filosofia ali ensinada era rigorosa, republicana e talvez de esquerda", observa Renato Janine Ribeiro. "O caráter republicano era tipicamente o da 3ª República Francesa, com seus valores de educação universal, de laicidade do Estado e de incorporação das massas na cidadania." | | A participação dos professores franceses na vida acadêmica da USP, segundo Janine, pode ser dividida em dois tempos. A primeira fase ocorreu na década de 30, quando os jovens Roger Bastide (1898-1974), Claude Lévi-Strauss e Jean Maugüé destacaram-se como professores de ciências humanas. "O professor convidava seus estudantes a uma imersão na cultura: assistiam a filmes, a peças de teatro, liam romances e os comentavam com o professor." Essa etapa, observa, foi vital para a formação de uma geração extremamente criativa na cena intelectual do Brasil. | | O mais celebrado professor dessa geração é, sem dúvida, Lévi-Strauss, que no fim do ano completou 100 anos, em Paris, onde mora. Considerado o antropólogo mais importante do século XX, o autor de "Tristes Trópicos" deu aulas na USP por três anos, de 1935 a 1938. Nesse período, organizou uma lendária expedição etnográfica a Mato Grosso, onde estudou os índios cadiuéus e os bororos. | | A segunda etapa, mais científica, foi introduzida por professores com uma convicção estrita do que é a filosofia. "Há de se destacar a participação de Michel Debrun, que lecionaria até o fim da vida na Unicamp, e de Gérard Lebrun, na 'Revista Brasilense' e nas discussões políticas prévias ao golpe de Estado de 1964'", diz Ribeiro. | | Outros nomes que colaboraram para a construção do pensamento nacional são os dos filósofos Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Simone de Beauvoir (1905-1980), que em 1960 desembarcaram no Brasil. Além do casal existencialista, Danielle Ancier - hoje Rancière - e Jean Galard, mais tarde diretor do serviço cultural do Museu do Louvre, também fizeram a cabeça dos intelectuais brasileiros. | | O apogeu dessa presença francesa na universidade daqui se deu em 1966, quando o jovem - e já polêmico - Michel Foucault (1926-1984) ministrou um curso, com abordagem estruturalista, sobre o assunto do livro que publicaria no ano seguinte: "As Palavras e as Coisas". | | A partir da década de 70, porém, o vínculo francês começou a diminuir. Primeiro, o governo passou a manter apenas duas cátedras na Faculdade de Filosofia da USP, depois a reduziu para apenas uma cadeira e a fez itinerar por Campinas antes de extingui-la definitivamente. Ainda assim, os professores franceses teriam cumprido um papel determinante em dois planos principais: na formação técnica dos alunos e na formação de um ideal de intelectual atuante na cena pública, cidadãos em contato com a sociedade. "Dessa forma, o legado francês na filosofia brasileira continua tendo a sua importância", afirma Janine. | | Assim como na filosofia, a influência francesa no campo da estética foi determinante no Brasil e seu legado ainda é visível. Berço da alta-costura e das maisons de maior prestígio do mundo, como Christian Dior (1905-1957) e Coco Chanel (1883-1971), a França, é claro, tem uma relevância extraordinária na construção do imaginário fashion nacional - e ocidental. Mas antes desses dois ícones, Mary Del Priore relembra o peso de Paul Poiret (1879-1944), que desfolhou os grandes vestidos rodados e elegeu a imagem da mulher-sílfide, longilínea e magra, em oposição às curvilíneas do fim do império. Em pleno início do século XX, Poiret afrouxou a silhueta e propôs novas modelagens, como as calças de odaliscas e os vestidos em forma de quimonos. | | A libertária Coco Chanel seguiu revolucionando a roupa feminina, propondo um vestuário menos rígido e mais casual, que se utilizava de tecidos pouco nobres - caso do jérsei, usado por ela para confeccionar vestidos, que até então só era usado para fazer lingeries. Coco adaptou peças do guarda-roupa masculino para o feminino, como o suéter - que nos trajes delas era usado sobre saia reta. O visual ornava com a aparência pessoal da estilista, que era magra, de seios pequenos e cabelos curtos, "à la garçonne". | | "A América é a grande responsável pela difusão da moda francesa nesse momento", diz Maria Lucia Bueno. A moda casual, com toques esportivos, feita por Coco Chanel, foi muito valorizada no novo continente. Até os anos 60, a moda francesa ditou o gosto não só no Brasil, mas no resto do mundo. "Para se ter uma ideia, na década de 20, 70% da produção da alta-costura francesa era exportada." | | Na época, as elites brasileiras e americanas consumiam o prêt-à-porter de luxo, que chegava pelos grandes magazines. "As casas francesas de moda, como a Lanvin, tinham representantes no Brasil, e o Masp tinha uma escola de moda que mostrava os desfiles de Elsa Schiaparelli [1890-1973] e Christian Dior." | | Esse fenômeno começou a configurar-se de outra forma a partir da década de 60, quando a moda passou a buscar suas referências no comportamento jovem. "A partir daí, não foi mais somente a elite a ditar o que era chique e a moda passou a ser vista como elemento de identidade de um grupo." | | A presença da França ainda é forte na cultura nacional quando se pensa em moda de luxo, apesar de, atualmente, à frente das maisons tradicionais estarem criadores ingleses - John Galliano, na Dior -, alemães - Karl Lagerfeld, na Chanel - e americanos - Marc Jacobs, na Louis Vuitton. | | No cinema, o período de maior irradiação da produção francesa foi durante a nouvelle vague, nos anos 60. Cineastas como Jean-Luc Godard e François Truffaut (1932-1984), que realizavam um cinema mais autoral, foram os que mais marcaram o cinema brasileiro, sobretudo com os filmes que fizeram no início da década, avalia o crítico Inácio Araújo. "O diretor Davi Neves tem muito a ver com Truffaut; Rogério Sganzerla [1946-2004] e Carlos Reichenbach têm muito a ver com Godard, apesar de essa influência ser difusa e estar misturada com outras, vindas do cinema italiano, do europeu de forma geral e do americano", analisa Araújo. | | E antes que alguém desconfie de que o Ano da França no Brasil esconde tão-só um novo olhar de cobiça, como foi em meados de 1500, a curadora-geral do evento, Anne Louyot, esclarece: "A França não quer dominar, quer compartilhar. Podemos trabalhar juntos em vários campos, como na arquitetura e na moda sustentável." E, de quebra, saborear juntos o que França e Brasil têm de melhor. | |