Eu não sou somente a vida; sou também a morte, e tu estás prestes a devolver-me o que te emprestei. Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada.
Aquela cousa que ali está, atirada sobre a cama, entre cochichos tristes, é o corpo
morto de Machado de Assis. Quatro horas da madrugada. Vem das árvores do Cosme Velho um cheiro de seiva. Os galos vão cantar.
Alguns dias antes, enquanto o velho Joaquim Maria murchava entre os lençóis,suando as últimas forças, o professor Dumas, na Associação dos Empregados no Comércio, discorria subtilmente sobre a psicologia dos moribundos. Citava exemplos colhidos – se é possível dizer assim – ao vivo. E esqueceu-se de apanhar o ensejo no entrevistando esse grande técnico especializado, o pai de Brás Cubas, que já então
demandava a trote largo os subúrbios da morte.
O professor Dumas amontoava os casos, debatia, comentava, criticava. Segundo o professor Egger, por exemplo, a idéia da morte, quando se apresenta ao espírito como próxima, acorda, em virtude de uma associação natural, o "eu vivo", isto é, a idéia colorida e presente da vida que levou o eu. Não tendo tempo de formular as suas reminiscências em noções abstratas, o pensamento lógico fica como que paralisado, e é o eu memorial que surge sob a forma de imagens e grandes quadros que resumem a vida
inteira. Brière de Boismont referiu o exemplo célebre de um matemático, grande jogador de cartas, que parecia ter perdido toda consciência, quando um amigo lhe anunciou ao ouvido uma jogada, e que respondeu: "quinta, quatorze e o ponto".
Certo, o espírito dessa conferência, considerado assim a distância, se impregna de
outro sentido e respira o mais puro humour machadiano. Estivesse entre os ouvintes, o pai de Brás Cubas trocaria com os seus botões um sorriso fino de inteligência, pensando: tudo isto é café pequeno diante do meu Delírio e do velho Viegas que, repete: "Não... não... quar... quaren... quar... quar..."
Uma cousa, porém, é escrever sobre a morte e outra, morrer. E aquela cousa que
ali está, inanimada, entre cochichos e passos discretos, ancorada no grande silêncio, já pertence ao mistério sem nome. Extinguiu-se inteiramente na face a cansada ironia. O mal de pensar, a luz da malícia que espreitava pelos olhos o espetáculo do estranho quotidiano, vitrificou-se no fundo das pupilas, sumida para sempre em si mesma. As mãos estão cruzadas, as pálpebras fechadas. De súbito, uma paz imprevista entrou pela porta. Outras formas de vida fermentam no cadáver. O fantasma de Quincas Borba explicaria que não há morte, há vida, pois a supressão de uma forma é a condição da sobrevivência da outra. O dia vai nascer.
E agora que o velho Joaquim Maria saiu pela porta invisível, deixando como rastro um ponto de interrogação, Machado de Assis, o outro, o inumerável, o prismático, o genuíno Machado, feito do sopro das palavras gravadas no papel e da magia do espírito concentrado entre as páginas, começará realmente a viver. O homem presente e corpóreo, com a sua pele, as suas vísceras, os seus achaques, o mulato macio e polido com o seu ramo de carvalho do Tasso, o acadêmico integrado em seu papel, encalhado em si mesmo, resignado a si mesmo, tem o grave inconveniente de estar vivo. A sua presença é um estorvo inevitável que se levanta entre a obra e o intérprete. Os seus amigos, as suas leitoras são outro estorvo. Um muro de simpatias ou de automatismos imitativos, de admirações ou de aceitações vai formando em torno dele esse primeiro clima de renome incipiente, tão precário e tão superficial quase sempre, em que os motivos de exaltação raro assentam numa compreensão profunda do espírito da obra, por falta de recuo no tempo e, portanto, de visão objetiva em distância propícia. Os amigos vêem a obra através do amigo, os leitores ainda se acham na fase dos primeiros namoros com o texto, cativos de tanta graça evasiva, de tanta agilidade maliciosa.
A obra de um grande escritor possui várias camadas superpostas, muitos degraus
de iniciação, e só poderá ser conquistada em profundidade pouco a pouco. Logo à
entrada, há um salão de recepção, onde os admiradores da primeira hora vão fazer o
elogio do dono da casa. Que talento, que bom gosto, uma delícia! Mas é vasto o casarão, e às vezes é preciso uma paciência enorme para abrir todas as portas, explorar os corredores inquietantes, subir e descer escadas, descobrir a cozinha e o quintal da casa.
Às vezes o dono está escondido no porão. Há muito visitante que jamais sairá da sala.
Basta-lhe, em todas as cousas, a leve espuma, a imagem fácil, a comodidade das
primeiras impressões, que é uma fofa poltrona para o espírito.
Entretanto, as realizaçoes do artista valem apenas como exercícios na sua luta
contra a indiferença da forma ou das fórmulas, mesmo dentro de uma linha de
continuidade tradicional, e o fato admirável num grande criador é que ele seja capaz de se renovar dentro da obra, de provocar mais tarde sugestões inesperadas. Aí transparece o seu segredo de renovação, a força da sua vitalidade, que ninguém pode tentar explicar sem um certo respeito diante da aventura sempre renovada que representa, ao longo das gerações, cada novo contato com o texto.
Formulando a questão em termos paradoxais, extraordinário me parece o seguinte: o autor continuar a viver, apesar da sua obra, esse túmulo. Qualquer forma da
sua expressão tende, mais cedo ou mais tarde, por força do inevitável embotamento e da velhice que banaliza as palavras como a água corrente arredonda os seixos, tende, digo eu, a limitá-lo, mas é verdade que ele vive e perdura naquilo que deixou oculto à sombra da expressão aparente, no segundo sentido que as gerações descobriram mais tarde e, em geral, logo de início passa em branca nuvem.
No fundo de toda obra literária, por menos que pareça e embora se apresente sob
o signo do desespero e da irremediável lucidez desencantada, há um protesto da vida
contra a irreversibilidade, um desejo de ficar, de não mudar mais na agonia dos minutos.
O exemplo mais grave, para ilustrar o caso, está na obra de Proust. Ele viveu
escravizado à memória, ao recuo nostálgico, à saudade no tempo e no espaço. Já no
começo dos seus ensaios literários, segue esse declive espontâneo da fantasia criadora, e convém ler em Les plaisirs et les jours as páginas de antecipação em que analisa o regret, palavra constante, em torno da qual se agrupam os temas proustianos. A força de concentração acha-se representada, nos 15 volumes1 de À la recherche du temps perdu, pelo eu que centraliza a história; a tendência dispersiva, pelo próprio tempo, dissociador e dissipador da personalidade. A busca do tempo perdido é a reconquista do eu que se perdeu. Volta-se o eu para o passado com a intenção de reconquistar ao longo dos anos vividos a memória integral da personalidade, quer salvar-se no meio da correnteza, construindo na ilha da memória o observatório da consciência. E no Proust do Temps retrouvé não há só o prestidigitador que mostra as mãos, revelando os seus passes, há principalmente a chave de toda uma vida. O sentido daquelas últimas páginas do Temps retrouvé é uma redenção pela vitória do eu reintegrado em si mesmo, a voz do autor parece vir do outro mundo, além do tempo e do espaço, como a grave mensagem de um iluminado da arte que se vai "da lei da morte libertando".
É assim que morre o homem para que a obra possa viver. Morre a cada momento, em cada frase acabada, em todo ponto final. Em verdade, o escritor procurava, talvez inconscientemente, essa outra forma de vida, mais grave e profunda,
que principia na hora da morte e se prolonga no tempo através da interpretação dos
leitores. E neste sentido é que o livro pode ser uma aventura sempre renovada,
principalmente quando construído em profundidade e com uma janela aberta para o
futuro. Deu-lhe o autor um inquieto espírito de sonho, para repartir com algumas
criaturas escolhidas. Seu sentido interior nao pára nunca, nem se deixa deformar pela
interpretação parcial dos leitores. Cada palavra impressa esconde um espelho de mil
facetas, onde a nossa imagem pode multiplicar-se até a tortura dos indefiníveis.
A verdadeira história de um escritor, portanto, principia na hora da morte, e de
nós depende em grande parte a sua sobrevivência. Quando os olhos são ricos, até os
livros medíocres podem reviver, transfigurados. Onde começam, onde acabam os
recursos da simples fantasia a portas fechadas, quando os olhos se enfiam pelos olhos e o sonhador incorrigível que vive dentro de nós se diverte em passar a limpo o texto da criação, decretando uma nova ordem cósmica?
Por conhecer todos esses recursos da imaginação é que Machado de Assis
escreveu, num dos seus mil e um parênteses: Nada se emenda bem no livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e
evocar todas as cousas que não achei nele. Quantas idéias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha, e os clarins soltam as notas que dormiam no metal, e tudo marcha com uma alma imprevista.2
Há um fundo permanente de verdade nessa caricatura do leitor ideal que é, em
essência, um colaborador, um segundo autor, a completar as sugestões do texto e a
encher de ressonância os brancos da página. O leitor nunca inventa, apenas descobre,
mas inserindo nessa descoberta a sua ressonância pessoal, consegue tocar nos limites da invenção. Neste sentido modesto, inventamos sempre o que descobrimos. E se não
houvesse em nós uma correspondência pronta a vibrar, uma receptividade capaz de
compreender e completar, como poderíamos descobrir alguma cousa?
Um dos grandes encantos da obra de Machado de Assis é a sua vaguidade sedutora que a todo momento solicita a colaboração direta do intérprete e parece coquetear com todos os leitores, para depois deixá-los, rendidos e logrados, do outro
lado da porta. Havia certamente em parte, nessa atitude, um enigmatismo voluntário,
uma faceirice de espírito problemático, a se comprazer na comédia da sua volubilidade
sem, no entretanto, conseguir iludir-se.
Pois no mais íntimo dessa obra, o que realmente adivinhamos é o sorriso do
autor, aquele sorriso consciente, frio, singular – não acreditando muito na aventura
literária, conhecendo a miséria das interpretações, o incomunicável que vai de um eu a outro eu, a melancolia das separações inevitáveis – a idéia viva que secou dentro da obra, a obra devorada na exegese e a exegese que acaba em errata de outra errata...
Augusto Meyer
Augusto Meyer (1902-1970) foi um dos mais finos intérpretes da obra de Machado de
Assis. Jornalista, ensaísta, poeta e crítico, foi diretor do Instituto Nacional do Livro por cerca de trinta anos. Entre suas principais obras, destacam-se, além do livro de que se retirou este ensaio: À sombra da estante (1947), Camões, o bruxo e outros estudos (1958) e A forma secreta (1965). Foi membro da Academia Brasileira de Letras.
Artigo publicado em MEYER, Augusto. Machado de Assis: 1935-1958. Rio de Janeiro: São José, 1958. p. 149-157. Republicado aqui com autorização da Sra. Amélia Moro (detentora dos direitos do autor), a quem os editores agradecem. A epígrafe, que o autor optou por não identificar, está em Memórias póstumas de Brás Cubas, capítulo 7, "O delírio". no capítulo "In extremis"
1 Embora sejam apenas sete os títulos dos livros que compõem a obra monumental de Proust, há edições em que um mesmo livro vem em mais de um volume. Na edição Gallimard de 1946, por exemplo, são 15 volumes.
2 Trata-se de uma passagem de Dom Casmurro (cap. 49, "Convivas de boa memória")
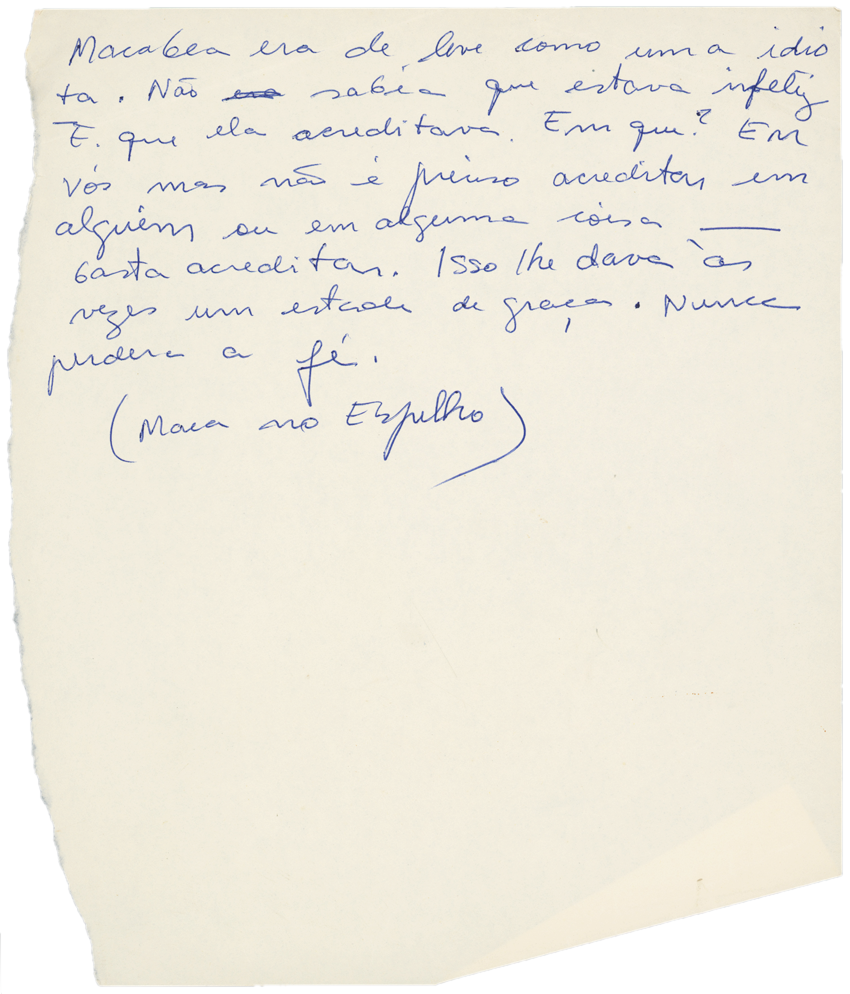
Nenhum comentário:
Postar um comentário