Saturday, July 04, 2009 8:02 AM
estado
A alma encantadora do teatro, segundo o crítico João do Rio
Tido como 'o Oscar Wilde carioca', ele analisou as artes cênicas na virada do século 19 para o 20
Sérgio Augusto
Gordo, mulato, homossexual, epicurista, comilão, o dândi da rua do Ouvidor, "o pândego infame" que curtia como ninguém a alma encantadora das ruas do Rio de Janeiro da belle époque - isso basta para identificar a figura ímpar de João do Rio, o Oscar Wilde carioca. Mas ainda é pouco para avaliar seu talento e a extensão de seus dotes à cultura brasileira, como observador, repórter, sociólogo amador, crítico, autor, ensaísta, conferencista e entertainer de salão.
Nascido João Paulo Alberto Coelho Barreto, também foi Joe, X, Claude, José Antonio José, Máscara Negra - e, antes de todos esses, apenas Paulo Barreto. Sob qualquer nome, o mais vivo, erudito e pernóstico cronista da cidade, na virada do século 19 para o século 20.
Arauto e baluarte do processo de modernização implantado pelo prefeito Pereira Passos, nenhum de seus pares (pares, repito, não apenas contemporâneos, como lhe foram Machado de Assis e Lima Barreto) sobreviveu com igual desenvoltura às traças do esquecimento e ao mofo das estantes. Pelo menos um dos 23 livros que publicou em vida costuma ser reeditado com regular frequência: o nunca assaz louvado A Alma Encantadora das Ruas, que acaba de sair em edição de bolso pela Cia. das Letras (256 págs., R$ 15). Além de ensaios a seu respeito ou nos quais ocupava lugar de destaque, dedicaram-lhe, nos últimos 30 anos, duas biografias: a mais recente, em 1996, de autoria de João Carlos Rodrigues, também responsável, dois anos antes, por um indispensável catálogo bibliográfico da obra de João do Rio.
Foi a partir desse catálogo que Níobe Abreu Peixoto elaborou sua tese de doutorado na USP sobre as relações de João do Rio com o teatro, defendida em 2003 e agora editada pela Edusp, com o título de João do Rio e o Palco (dois volumes, 592 págs., R$ 85). É a mais recente demonstração do fascínio que o flâneur mais curioso e inquieto da República Velha até hoje exerce sobre todas as gerações. Preenchida essa lacuna, fica faltando coligir os comentários literários e políticos que Paulo Barreto e seus alter egos espalharam pela imprensa do Rio e São Paulo entre junho de 1899, sua estreia (ou seu début, como ele, na certa, preferiria dizer) no ofício, e junho de 1921, quando, prestes a virar quarentão, morreu de enfarte, num táxi (como o poeta Robert Lowell), vindo da redação do jornal A Pátria para sua casa, na então quase inabitada Ipanema.
O teatro foi uma descoberta adolescente de Paulo Barreto. Era o que havia de arte cênica na época, além do circo e dos cafés-concerto. Com a vida teatral envolveu-se totalmente, aqui e além-mar; como crítico (ou comentarista, como se autodefinia), repórter (fez inúmeras entrevistas com a nata da ribalta do Rio, Lisboa e Paris), tradutor (de Wilde: Salomé e O Retrato de Dorian Gray), autor (uma de suas peças, A Bela Madame Vargas chegou a ser montada em Portugal, em 1913), ativista (fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais), e até como cicerone de estrelas internacionais (Isadora Duncan dançou nua em sua frente, na cascatinha da Tijuca, em 1916).
Níobe Peixoto impressionou-se com a abundante produção jornalística de João do Rio, a diversidade de seus enfoques, a riqueza de seus detalhes, e, sobretudo, com sua ativa participação nos eventos teatrais mais significativos do momento e os diálogos que estabeleceu com os diversos segmentos da área. Analisou peças, autores, montagens, performances, comportamento da plateia, e polemizou, sempre de espada afiada, com seus companheiros de crítica, pela qual, à exceção de Rodrigues Barbosa, não tinha o menor apreço.
O que ofereciam os teatros da capital federal no final do século 19? Espetáculos cômicos, com dança e música, pequenos vaudevilles (o pré-teatro de revista), adaptações de romances folhetinescos (em geral por Dias Braga ou Eduardo Vitorino), encenações líricas com tenores estrangeiros, temporadas de estrelas europeias, quase todas vindas da França e Itália (Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, Gabrille Réjane). Salvando as cores nacionais, as paródias e operetas de Artur Azevedo, cujas caricaturas aturdiam, quando não irritavam, as celebridades e os poderosos do dia. Com a morte de Azevedo, em 1908, Coelho Neto e Olavo Bilac passaram a dividir as honras da casa.
"Há uma vibração ideal de verdade, um sentimento degenerado de desorganização física, uma neurose de epiléptica na atriz Lucília." Assim começava o primeiro texto jornalístico de Paulo Barreto, no jornal A Tribuna, 1º de junho de 1899. Em pauta, uma encenação de Casa de Bonecas, de Ibsen, com Lucília Simões no papel de Nora. Lucília era filha (e herdeira artística) de Lucinda Simões, grande dama do teatro brasileiro, dona de uma casa de espetáculos com seu nome, admirações permanentes de João do Rio.
Um mês depois, o segundo texto, ainda como Paulo Barreto, mas já na gazeta Cidade do Rio (fundada pelo abolicionista José do Patrocínio) e misturando a literatura de Alexandre Dumas Filho com digressões sobre o Naturalismo e o Realismo, que defendia ferozmente contra o Romantismo. Só no final de 1903, na coluna A Cidade, da Gazeta de Notícias, tirou do colete o nom de plume que o consagraria. Já era, portanto, João do Rio quando passou a colaborar na sofisticada revista Kosmos, em setembro de 1904, mesmo ano em que publicou uma série de reportagens sobre as religiões do Rio, que, enfeixadas em livro, viraram best seller, e iniciou sua caleidoscópica perambulação pela "cosmópolis" carioca, que redundaria em A Alma Encantadora das Ruas.
Tinha uma visão negativa do teatro nativo, da mediocridade de seus autores (afora Martins Pena e Artur Azevedo, nada a ser levado a sério) e da pobreza das casas de espetáculo, que praticamente se resumiam a meia dúzia: o Lírico ("enorme e lamentável barracão muito feio"), o São Pedro, o Lucinda (de Lucinda Simões), o Carlos Gomes e o Recreio. Espinafrou até a precariedade de seus camarins ("de tabiques maus e papel sujo"), livrando a cara de dois ou três, um dos quais o de Lucinda Simões. Reclamava da mesmice de ofertas, limitada a "embrulhadas, pândegas, pilhérias compridas, angus feitos com os pedaços de todas as outras coisas", do amadorismo, do egoísmo, da vaidade doentia e do fátuo estrelismo de muitos atores nacionais, que volta e meia aderiam ao coro (ou ao "coaxar malévolo") dos demais ingratos e insatisfeitos com as críticas por ele formuladas, sempre, vale frisar, com a melhor das intenções.
Impossível estimar, sem a possibilidade de uma tira-teima, onde e quando foi justo ou injusto. É certo que exagerou nas exaltações a Coelho Neto, tratado como um gênio da literatura, comparável a D?Annunzio e Kipling, mas, à luz do que até hoje se vê, várias de suas estocadas permanecem atualíssimas. Como esta: "No Brasil, quanto mais o ator cômico vira palhaço e deturpa os autores, mais aplausos tem da plateia sem noção de arte."
Divertido e surpreendente (só gostava de assistir às companhias líricas baratas, "com coros hesitantes, velhos barítonos em decadência e prima-donas esfalfadas"), teve a sorte de testemunhar a construção e as 12 primeiras temporadas do Teatro Municipal do Rio, cujo centenário se celebra daqui a 10 dias. Recebeu-o como uma bênção, uma conquista civilizatória, um oásis artístico e cultural. Não aderiu à campanha de parte ou da maioria da imprensa contra a entrega da primeira temporada do Municipal à companhia da atriz francesa Gabrielle Réjane. Apenas em tese julgava justa a reivindicação do novo e formidável templo teatral carioca para uma companhia brasileira. Como "não queria vê-lo transformado em palco de revistas e velhas mágicas", defendeu "o elemento estrangeiro", que, a seu ver, muito nos teria a ensinar.
Foi João do Rio, assinando-se então Joe, quem fez a melhor cobertura da inauguração do Municipal. Em linguagem literária há muito ausente de nossos impressos, pontuada de alusões históricas e literárias, nada, em sua reportagem-crônica, escapou ao seu olhar deslumbrado, jubiloso e fotográfico. Do intenso movimento de veículos e cocheiros à entrada do teatro à cerimônia em si (Hino Nacional, discurso de Bilac, um poema sinfônico de Francisco Braga e Escragnole Doria, uma peça em um ato de Coelho Neto, uma ópera lírica, também em um ato, de Delgado de Carvalho), com preciosas descrições do opulento interior da casa e dos solenes convivas presentes à grande noite. O homem certo, no lugar certo, na hora certa. E com o estilo certo.
Nascido João Paulo Alberto Coelho Barreto, também foi Joe, X, Claude, José Antonio José, Máscara Negra - e, antes de todos esses, apenas Paulo Barreto. Sob qualquer nome, o mais vivo, erudito e pernóstico cronista da cidade, na virada do século 19 para o século 20.
Arauto e baluarte do processo de modernização implantado pelo prefeito Pereira Passos, nenhum de seus pares (pares, repito, não apenas contemporâneos, como lhe foram Machado de Assis e Lima Barreto) sobreviveu com igual desenvoltura às traças do esquecimento e ao mofo das estantes. Pelo menos um dos 23 livros que publicou em vida costuma ser reeditado com regular frequência: o nunca assaz louvado A Alma Encantadora das Ruas, que acaba de sair em edição de bolso pela Cia. das Letras (256 págs., R$ 15). Além de ensaios a seu respeito ou nos quais ocupava lugar de destaque, dedicaram-lhe, nos últimos 30 anos, duas biografias: a mais recente, em 1996, de autoria de João Carlos Rodrigues, também responsável, dois anos antes, por um indispensável catálogo bibliográfico da obra de João do Rio.
Foi a partir desse catálogo que Níobe Abreu Peixoto elaborou sua tese de doutorado na USP sobre as relações de João do Rio com o teatro, defendida em 2003 e agora editada pela Edusp, com o título de João do Rio e o Palco (dois volumes, 592 págs., R$ 85). É a mais recente demonstração do fascínio que o flâneur mais curioso e inquieto da República Velha até hoje exerce sobre todas as gerações. Preenchida essa lacuna, fica faltando coligir os comentários literários e políticos que Paulo Barreto e seus alter egos espalharam pela imprensa do Rio e São Paulo entre junho de 1899, sua estreia (ou seu début, como ele, na certa, preferiria dizer) no ofício, e junho de 1921, quando, prestes a virar quarentão, morreu de enfarte, num táxi (como o poeta Robert Lowell), vindo da redação do jornal A Pátria para sua casa, na então quase inabitada Ipanema.
O teatro foi uma descoberta adolescente de Paulo Barreto. Era o que havia de arte cênica na época, além do circo e dos cafés-concerto. Com a vida teatral envolveu-se totalmente, aqui e além-mar; como crítico (ou comentarista, como se autodefinia), repórter (fez inúmeras entrevistas com a nata da ribalta do Rio, Lisboa e Paris), tradutor (de Wilde: Salomé e O Retrato de Dorian Gray), autor (uma de suas peças, A Bela Madame Vargas chegou a ser montada em Portugal, em 1913), ativista (fundou a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais), e até como cicerone de estrelas internacionais (Isadora Duncan dançou nua em sua frente, na cascatinha da Tijuca, em 1916).
Níobe Peixoto impressionou-se com a abundante produção jornalística de João do Rio, a diversidade de seus enfoques, a riqueza de seus detalhes, e, sobretudo, com sua ativa participação nos eventos teatrais mais significativos do momento e os diálogos que estabeleceu com os diversos segmentos da área. Analisou peças, autores, montagens, performances, comportamento da plateia, e polemizou, sempre de espada afiada, com seus companheiros de crítica, pela qual, à exceção de Rodrigues Barbosa, não tinha o menor apreço.
O que ofereciam os teatros da capital federal no final do século 19? Espetáculos cômicos, com dança e música, pequenos vaudevilles (o pré-teatro de revista), adaptações de romances folhetinescos (em geral por Dias Braga ou Eduardo Vitorino), encenações líricas com tenores estrangeiros, temporadas de estrelas europeias, quase todas vindas da França e Itália (Eleonora Duse, Sarah Bernhardt, Gabrille Réjane). Salvando as cores nacionais, as paródias e operetas de Artur Azevedo, cujas caricaturas aturdiam, quando não irritavam, as celebridades e os poderosos do dia. Com a morte de Azevedo, em 1908, Coelho Neto e Olavo Bilac passaram a dividir as honras da casa.
"Há uma vibração ideal de verdade, um sentimento degenerado de desorganização física, uma neurose de epiléptica na atriz Lucília." Assim começava o primeiro texto jornalístico de Paulo Barreto, no jornal A Tribuna, 1º de junho de 1899. Em pauta, uma encenação de Casa de Bonecas, de Ibsen, com Lucília Simões no papel de Nora. Lucília era filha (e herdeira artística) de Lucinda Simões, grande dama do teatro brasileiro, dona de uma casa de espetáculos com seu nome, admirações permanentes de João do Rio.
Um mês depois, o segundo texto, ainda como Paulo Barreto, mas já na gazeta Cidade do Rio (fundada pelo abolicionista José do Patrocínio) e misturando a literatura de Alexandre Dumas Filho com digressões sobre o Naturalismo e o Realismo, que defendia ferozmente contra o Romantismo. Só no final de 1903, na coluna A Cidade, da Gazeta de Notícias, tirou do colete o nom de plume que o consagraria. Já era, portanto, João do Rio quando passou a colaborar na sofisticada revista Kosmos, em setembro de 1904, mesmo ano em que publicou uma série de reportagens sobre as religiões do Rio, que, enfeixadas em livro, viraram best seller, e iniciou sua caleidoscópica perambulação pela "cosmópolis" carioca, que redundaria em A Alma Encantadora das Ruas.
Tinha uma visão negativa do teatro nativo, da mediocridade de seus autores (afora Martins Pena e Artur Azevedo, nada a ser levado a sério) e da pobreza das casas de espetáculo, que praticamente se resumiam a meia dúzia: o Lírico ("enorme e lamentável barracão muito feio"), o São Pedro, o Lucinda (de Lucinda Simões), o Carlos Gomes e o Recreio. Espinafrou até a precariedade de seus camarins ("de tabiques maus e papel sujo"), livrando a cara de dois ou três, um dos quais o de Lucinda Simões. Reclamava da mesmice de ofertas, limitada a "embrulhadas, pândegas, pilhérias compridas, angus feitos com os pedaços de todas as outras coisas", do amadorismo, do egoísmo, da vaidade doentia e do fátuo estrelismo de muitos atores nacionais, que volta e meia aderiam ao coro (ou ao "coaxar malévolo") dos demais ingratos e insatisfeitos com as críticas por ele formuladas, sempre, vale frisar, com a melhor das intenções.
Impossível estimar, sem a possibilidade de uma tira-teima, onde e quando foi justo ou injusto. É certo que exagerou nas exaltações a Coelho Neto, tratado como um gênio da literatura, comparável a D?Annunzio e Kipling, mas, à luz do que até hoje se vê, várias de suas estocadas permanecem atualíssimas. Como esta: "No Brasil, quanto mais o ator cômico vira palhaço e deturpa os autores, mais aplausos tem da plateia sem noção de arte."
Divertido e surpreendente (só gostava de assistir às companhias líricas baratas, "com coros hesitantes, velhos barítonos em decadência e prima-donas esfalfadas"), teve a sorte de testemunhar a construção e as 12 primeiras temporadas do Teatro Municipal do Rio, cujo centenário se celebra daqui a 10 dias. Recebeu-o como uma bênção, uma conquista civilizatória, um oásis artístico e cultural. Não aderiu à campanha de parte ou da maioria da imprensa contra a entrega da primeira temporada do Municipal à companhia da atriz francesa Gabrielle Réjane. Apenas em tese julgava justa a reivindicação do novo e formidável templo teatral carioca para uma companhia brasileira. Como "não queria vê-lo transformado em palco de revistas e velhas mágicas", defendeu "o elemento estrangeiro", que, a seu ver, muito nos teria a ensinar.
Foi João do Rio, assinando-se então Joe, quem fez a melhor cobertura da inauguração do Municipal. Em linguagem literária há muito ausente de nossos impressos, pontuada de alusões históricas e literárias, nada, em sua reportagem-crônica, escapou ao seu olhar deslumbrado, jubiloso e fotográfico. Do intenso movimento de veículos e cocheiros à entrada do teatro à cerimônia em si (Hino Nacional, discurso de Bilac, um poema sinfônico de Francisco Braga e Escragnole Doria, uma peça em um ato de Coelho Neto, uma ópera lírica, também em um ato, de Delgado de Carvalho), com preciosas descrições do opulento interior da casa e dos solenes convivas presentes à grande noite. O homem certo, no lugar certo, na hora certa. E com o estilo certo.
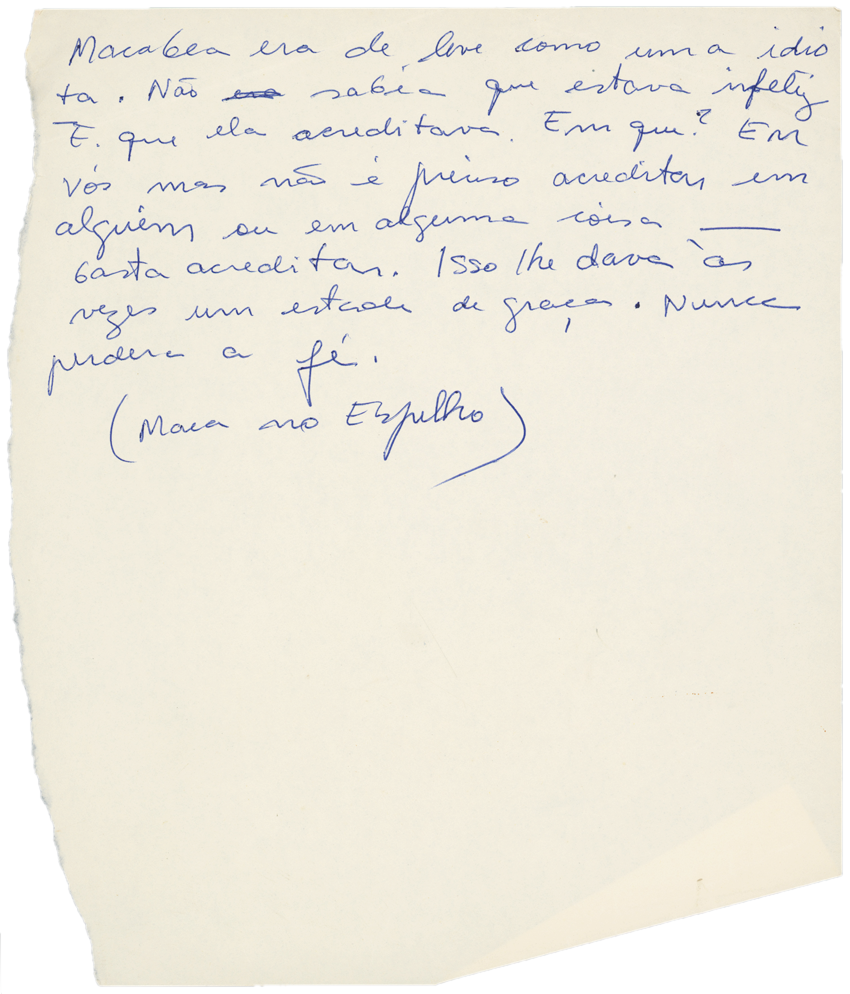
Nenhum comentário:
Postar um comentário