O ROMANCE TRAGICÔMICO DE MACHADO DE ASSIS
Ronaldes de Melo e Souza - UFRJ
1 Texto apresentado no Colóquio de Literatura organizado pela UERJ de São Gonçalo em 2005.A originalidade do romance machadiano no contexto da literatura nacional e internacional, eis a tese que se pretende demonstrar através da elucidação hermenêutica da estrutura conjuntiva e coesa da forma dramática e da mundividência tragicômica. A concepção machadiana do romance como drama de caracteres se comprova na encenação dos personagens, que se nos apresentam como consciências cindidas em conflitos consigo mesmas e com os outros, e na auto-dramatização do narrador, que se compraz em representar os outros eus, e não o próprio eu. A originalidade do narrador machadiano consiste em atuar como ator dramático, que assume e finge todo gênero de caracteres, desempenhando diferentes papéis, articulando uma alternância vertiginosa de perspectivas ou máscaras narrativas, modulando vários pontos de vista, sempre recusando a inflexão inercial de se imobilizar na representação doutrinária de um só papel, na adoção monológica de uma visão de mundo pretensamente normativa.
O narrador que finge múltiplas vozes ou que realiza a mimesis de várias atitudes nada tem de volúvel. Pelo contrário, cumpre a sublime função dramática de legítimo mediador dos sentidos culturalmente consentidos pelos diversos estratos sociais da comunidade histórica. Exemplo extremo e sério da representação da alteridade, o narrador singularizado como fingidor representa a disputa das ideologias em luta, e não o primado epistemológico de uma ideologia em particular. Além da mobilidade dos gestos e dos atos do narrador multiperspectivado, a originalidade do romance machadiano também se verifica na mundividência tragicômica do Satyrikon dionisíaco, que subage na urdidura poética dos dramas de Eurípides e Shakespeare. A reversa harmonia da tragédia e da comédia, poematizada por William Shakespeare sob a forma do drama e por Machado de Assis sob a forma do romance, constitui o testemunho eloqüente da perenidade do Satyrikon do deus do duplo domínio da luz e da treva, do bem e do mal, da vida e da morte. O drama encenado pelo narrador machadiano se notabiliza como tragicômico, na acepção originalíssima da mundividência dionisíaca, e não somente no sentido secundário da fusão do trágico e do cômico. A fim de demonstrar a tese proposta, necessário se torna elucidar a origem dionisíaca do drama tragicômico e a sua vigência no romance Quincas Borba .
1. A origem dionisíaca do drama tragicômico
A extraordinária amplitude artística da revolução estrutural da narrativa machadiana somente se compreende quando se nota a dramatização do narrador e dos eventos narrados. O narrador se representa dramaticamente revestido das múltiplas máscaras narrativas, que se compaginam no multiperspectivismo narrativo em perfeita consonância com o saber preconizado pela gaia ciência da ficção irônica. Os eventos narrados dramatizam a natureza reticente, contraditória e multiforme dos caracteres em conflito consigo mesmos e com os outros. O plurivocalismo do narrador desdobrado em várias personalidades e o concerto de vozes que se dialetizam na interioridade anímica dos personagens transmutam a ficção narrativa de Machado de Assis numa sinfonia de reflexões devotadas à análise do bivocalismo da consciência que se bifurca no antagonismo moral da razão e da vontade, do bem público e do interesse privado, do acerto racional e do desconcerto passional. Os personagens que atuam no universo machadiano sempre se representam tensionados pelo impacto dúbio da consciência cindida em polêmica consigo mesma, empuxada por forças simétricas e opostas. A tensão dramática, que os impulsiona e lhes singulariza o perfil psicológico, submete o contorno homogêneo e coerente da conduta delineada pela caracterologia tradicional dos compêndios éticos e poetológicos a uma desconstrução irônica.
Na deliberada oposição aos axiomas propugnados pela tradição cultural e literária, que se tornou hegemônica no decurso histórico da civilização ocidental, Machado de Assis adota uma perspectiva através dos séculos e transpõe para a forma inovadora da ficção irônica a visão tragicômica do drama dionisíaco, que celebra o duplo domínio da vida e da morte. A interpretação do mito e do culto de Dioniso, efetivada por Walter F. Otto, elucida a duplicidade do deus que os contrários não contradizem, porque ele os contêm em si mesmo (Otto, 1969). Nascido da hierogamia do imortal Zeus e da mortal Semele, Dioniso se distingue da idealidade dos deuses olímpicos porque o seu ser não se contrapõe ao não-ser, e a sua vida não subsiste, senão porque a morte existe. Ele aparece, nos mitos e ritos, como agente da expansão vital e, ao mesmo tempo, como paciente da contração mortal. Dobrando e desdobrando o selado segredo do ser que bem quer ocultar-se, as epifanias dionisíacas, tanto as teriomórficas (Zagreus), quanto as fitomórficas (Dendrites), dramatizam a tensão harmônica do movente conúbio do superno celestial e do inferno terrestre. Divino guardião da reversa harmonia da euforia luminosa e da disforia trevosa, Dioniso se manifesta como portador da fulgurante presencialização olímpica e da ofuscante ausencialização tartárica.
Na hierofania do êxtase dionisíaco, cantado e dançado no ritmo ditirâmbico, a patência teofânica do ser e a latência teocríptica do não-ser mutuamente se implicam. Renascendo do sacríficio de sua vida para sempre recomeçada, Dioniso se cultua como
senhor dos vivos e dos mortos. A sacrossanta essência do seu nascimento se consuma na consagração do seu falecimento. No desvelamento da matriz abissal da sacralidade subterrânea, a verdade paradoxal da religiosidade báquica se condensa na enunciação de que viver é não cessar de morrer. Em confronto com a idealidade consignada nos axiomas da conduta disciplinada, o ditame dionisíaco confuta a pretensão hegemônica do simbolismo apolíneo, que se expressa no vitalismo antropocêntrico do povo grego. Dioniso, que se anuncia como deus destruidor do homem puramente humano, demasiado humano (Dionysos anthroporraistes ), submete a uma descontrução irônica a simbólica antropoplástica da cultura grega, que se tornou normativa no decurso histórico da civilização ocidental. No fulgor sombrio do complexo ritual do perséquito das mênades, o alarido passional e o silêncio glacial se complementam como expressões polares do louvor e do terror provocados pelo aparecimento súbito e pelo desaparecimento repentino da divindade que prodigaliza o desenvolvimento da vitalidade e o envolvimento da mortalidade.
Justamente porque não alegoriza nenhum ente dissimulado ou oculto numa suposta idealidade substancial, precisamente porque tautegoriza a realidade processual e diluvial da essência inebriada de ausência é que a máscara se impõe como símbolo da teofania dionisíaca (Otto, 1969, 81-6). Sem avesso nem fundo, porque nada contém dentro de si, a máscara simboliza a manifestação do que é simultaneamente presente e ausente. Na religação da sobriedade cósmica e ebriedade caótica, em que o luciforme universo divino e o cruciforme destino se congregam na concórdia discordante ou na discórdia concordante, a máscara dionisíaca assinala a eurritmia do mundo que devém e revém no eterno retorno da fascinante essencialização e da excruciante nadificação. Símbolo epifânico do plexo da vida e da morte ou do nexo do ser e do nada, a máscara divina constitui a sagrada cifra em que se decifra o enigmático fragmento heraclítico, segundo o qual Dionysos e Hades são um e o mesmo deus.
A fim de confirmar que a mascarada do narrador machadiano se fundamenta na mundividência dionisíaca, convém remontar ao período arcaico da cultura grega, em que se representava o drama tragicômico em homenagem ao deus do duplo domínio da tristeza e da alegria, do rapto trágico da morte e do impulso festivo da vida, do funesto canto da tragédia e do riso cordial da comédia. A separação aristotélica dos gêneros da poesia trágica e cômica, que se impôs à tradição literária ainda dominante, corresponde ao desígnio histórico da época clássica da Grécia, que se caracteriza pelo primado da análise e da classificação filosófica em oposição ao conhecimento preconizado pelos poetas e pensadores antigos, que poematizam a unidade dual dos contrários que se complementam na intimidade ambivalente da natureza que bem quer ocultar-se e no duplo domínio divino do vivo e do morto. A representação do drama mesclado de alegria e dor da tragicomédia constitui a única forma artística que se compatibiliza com
a reversa harmonia da arte dionisíaca. A forma tragicômica da poesia do som e da palavra remonta ao Satyrikon, que não se perdeu no passado imemorial, mas se conserva como princípio de construção de várias obras da literatura ocidental. Os textos teatrais de Eurípides na antigüidade e de Shakespeare no alvorecer da modernidade são testemunhos inequívocos do vigor criativo da mundividência tragicômica.
Na parte final do Banquete de Platão, Sócrates tenta convencer Aristófanes e Ágaton de que o homem que sabe compor tragédias deve também saber compor comédias. A convicção socrática de que aquele que tem a arte de poeta cômico tem igualmente a arte de poeta trágico (Symposium, 223 D) supõe uma fase anterior à separação dos gêneros da comédia e da tragédia. A existência de um gênero poético originariamente tragicômico como fonte comum da arte dos comediógrafos e dos tragediógrafos não se atesta apenas na alusão de Sócrates, mas também no capítulo quarto da Poética de Aristóteles, em que se afirma que, na linha evolutiva do ditirambo ao gênero solene e austero da tragédia, interpõe-se o Satyrikon, que é a forma poética de estilo sério-jocoso da tragédia vinculada originariamente ao mito e ao culto dionisíaco. Quintino Cataudella, no estudo sobre a referência aristotélica ao Satyrikon, argumenta a tese de que a antinomia da comédia e da tragédia constitui uma negação injustificável da religião do deus do duplo domínio da ebriedade vital e do rapto mortal (Cataudella, 1965).
O helenista Cataudella observa que o termoSatyrikon, utilizado por Aristóteles, pode ser entendido em duas acepções, uma literal, que designa as composições destinadas aos coros de sátiros, que se assemelham embrionariamente aos dramas satíricos dos tempos ulteriores, e outra figurada, que se refere ao gênero poético sui generis, que contém na sua unidade dual a consonância dissonante ou a dissonância consonante do cômico e do trágico. Muito aquém da separação da comédia e da tragédia, o neutro Satyrikon define a forma originária da poesia tragicômica. A definição aristotélica da satyrike poíesis concebe o Satyrikon como uma forma poética primeva, que se distingue da representação ritualística do drama protagonizado pelos sátiros e do drama satírico propriamente dito. (Cataudella, 1965, 164). Nascida do ditirambo entoado em louvor do deus do duplo domínio da vida e da morte, da alegria e da dor, do entusiasmo triunfante e do lamento fúnebre, a forma poética do Satyrikon constitui a fonte criadora dos autores que poetizam a tensão harmônica dos extremos contrapolares.
O estatuto tragicômico da forma poética do Satyrikon assegura a coesão dramática das Bacantes de Eurípides. A peça considerada pela maioria dos críticos como a mais trágica das tragédias euripidianas dramatiza um argumento genuinamente dionisíaco. No terceiro episódio (vv. 576-861), o deus Dioniso, invocado pelos figurantes do coro, comparece in persona no palco dos eventos, dirige-se aos fiéis e lhes alivia a aflição com o relato em que explica os eventos ocorridos no interior do palácio. Cataudella
enfatiza que a forma métrica adotada na enunciação da fala do deus, precedida e acompanhada pelo comentário do coro, é a do tetrâmetro trocaico, que Aristóteles julga ser o metro próprio do Satyrikon (Cataudella, 1965, 171). Cantarella sublinha, em dois estudos complementares, que a natureza dual, desmesurada e contraditória de Dioniso requer a interação poética do trágico e do cômico como a forma capaz de se harmonizar com a duplicidade do deus que contém os contrários no seu próprio ser (Cantarella, 1971 e 1974). Seidensticker demonstra, no ensaio e no livro dedicados à exegese dos elementos cômicos na tragédia grega, que a comicidade e a tragicidade mutuamente se correspondem, tanto na cena ridícula de Tirésias e Cadmo, quanto na terrível cena do ludíbrio com que Dioniso induz a morte de Penteu (Seidensticker, 1978, 303-320 e 1982, 115-129). No início do primeiro episódio, os dois velhos, Tirésias e Cadmo, se revestem das insígnias do deus Dioniso e se apresentam empunhando o tirso, cingindo a nébrida e com a hera lhes coroando a fronte. O efeito tragicômico dos velhos revestidos de bacantes resulta do contraste entre a fraqueza física, que se nota nos passos trôpegos, e o entusiasmo contagiante das Mênades, emblematizado nas insígnias dionisíacas
No quarto episódio (vv. 912-976), Dioniso promete a Penteu satisfazer-lhe o desejo de contemplar as bacantes acampadas na montanha desde que o rei consinta em disfarçar-se de mulher. O deus justifica a necessidade do disfarce, alegando que as mênades matam os homens que ousam espioná-las. Para assistir ao que lhe parece ser uma bacanal de mulheres ébrias, Penteu cinge o corpo com um peplo de linho, ataviando-se com mitra na fronte, pele de corço e longa cabeleira. A cena do rei travestido de mênade atinge a culminância de uma bufoneria, sobretudo porque a guerra santa de Penteu tem por objetivo aniquilar o menadismo. No entanto, o efeito cômico não se dissocia do trágico. Eudoro de Sousa observa que o sinistro humor da disposição resoluta com que Penteu se dirige a Dioniso e se declara pronto para envergar a vestimenta feminina se condensa na ambigüidade do verso 934: "Pronto! Enfeita-me tu, em tuas mãos estou!":
"(...) no original, 'anakeímesthai soí' tanto pode significar 'estou nas tuas mãos', como 'estou consagrado a ti', ou, com os olhos postos na seqüência do mito, 'sou a vítima destinada ao sacrifício', que hão de celebrar para gáudio teu'"(Sousa, 1974, 106).
Dodds surpreende, no estatuto calculado da arte euripidiana, a simetria irônica que se estabelece entre os episódios segundo, em que Penteu aprecia com desdém o traje de Dioniso, e o quarto, em que Dioniso zomba de Penteu travestido de mênade (Dodds, 1960, 192). A ironia dramática encalça os passos do rei em marcha rumo ao Citeron, onde lhe aguarda, malgrado a indumentária, a morte por decapitação e despedaçamento nas mãos das sacerdotisas do ritual sangrento de Dioniso Zagreus. O fulgor sombrio da cena em que Ágave, a mãe de Penteu, toma em suas mãos a cabeça do filho e a espeta na ponta do tirso suscita compaixão e terror, que são as emoções trágicas por
excelência, mas, ao mesmo tempo, efetiva a reversão irônica do perseguidor de Dioniso em vítima dionisíaca. No enlace tragicômico das cenas do travestimento e do desfecho horrível de Penteu despedaçado pelas furiosas mênades, Eurípides provoca no espectador ou leitor as comoções indissociáveis do riso da comédia e do lamento fúnebre da catástrofe trágica. A mistura indissolúvel do trágico e do cômico, que articula a forma dramática das Bacantes, isomorficamente se relaciona com a ambivalência do mito e do culto dionisíaco.
A vigência poética do Satyrikon como drama tragicômico atua como força plasmadora das peças de Shakespeare, que convertem o ditame tradicional da separação dos gêneros na interpenetração dinâmica da tragédia e da comédia. Na primeira cena do ato quinto de Sonho de uma Noite de Verão (vv. 58-71), o jocoso e o trágico são evocados como fatores constitutivos de uma tragicomédia em que possível se torna a representação simultânea do ruidoso riso e das lancinantes lágrimas. Na ambivalência dramática do acordo no desacordo das emoções tensionadas na reversa harmonia dos contrários ritmados na dissonância consonante ou na consonância dissonante das disposições animicamente empuxadas em direções opostas, subage em surdina o substrato dinâmico do Satyrikon dionisíaco. Macbeth se inicia com o sinistro humor das bruxas que profetizam o destino sombrio do regicida, que repercute no motejo do falar dobrado dos oráculos que anunciam a coexistência do bom e do mau no caráter do herói e da vitória e da perda em sua luta pelo poder. O assassínio de Duncan converte o itinerário existencial de Macbeth na sombria senda de horror e sangue. O sentimento de culpa, que lhe tumultua a mente, transforma a sua vida numa errância tenebrosa, sacudida de pesadelos. A insana disputa do personagem duplicado no antagonista de si mesmo suscita aflição e terror. Contudo, na cena do porteiro, funcionalmente justaposta à cena do regicídio, a comicidade dos gestos e palavras obscenas do porteiro sonolento se consorcia com a tragicidade do ato nefando (Macbeth, II.3). A justaposição tragicômica das cenas funestas e ridículas de tragédia e bufoneria constitui o testemunho artístico de que Shakespeare é o poeta da modernidade intimizada com a antigüidade do Satyrikon.
As figuras cômicas do camponês na segunda cena do ato quinto de Antônio e Cleópatra , dos coveiros em Hamlet e do bobo em O Rei Lear são notáveis exemplos da tensão harmônica do jocoso e do sério, que singulariza o drama tragicômico de Shakespeare. Na desconcertante cena em que o camponês traz um cesto de figos e áspides para a rainha do Egito oficiar o drama ritual do suicídio, Cleópatra pergunta se a serpente a comerá, e o campônio, num tom ambíguo e reticente, responde que lhe deseja bom proveito da cobra. Na reversa harmonia da tragicomédia, o cômico parece mais cômico, e o trágico se torna mais trágico. A arte shakesperiana da unidade tragicômica dos contrários se impõe como matriz literária de vários escritores
modernos. Karl Guthke, no estudo intitulado A Tragicomédia Moderna, demonstra que Luigi Pirandello, Eugène Ionesco, Friedrich Dürrenmatt, Jack Richardson e Harold Pinter se notabilizam como autores que realizam com tamanha intensiddade a interpenetração dinâmica do cômico e do trágico em cada um de seus dramas, que o cômico parece trágico, e o trágico se revela cômico (Guthke, 1968).
O reconhecimento do drama tragicômico como forma suprema da arte constitui uma das glórias de pensadores e poetas alemães no alvorecer da modernidade. Schelling sustenta a tese de que a interação do cômico e do trágico constitui o princípio articulador da estrutura do drama moderno (Schelling, 1859, 718). Hoffmann exalta o efeito portentoso que a unidade tragicômica da obra de arte provoca no ânimo do espectador ou do leitor (Hoffmann, 1957, 100). Nas preleções vienenses de 1808, Ausgust Wilhelm Schlegel concebe o gênero mesclado da tragicomédia como expressão da natureza contraditória do homem da modernidade. De acordo com Guthke, o autor que colige e interpreta copiosa documentação relativa à moderna teoria tragicômica, as preleções de A. Schlegel se credenciam como súmulas poéticas, que alcançam notoriedade internacional através do livro De L´Allemagne, de Mme de Staèl, publicado em 1810 (Guthke, 1968, 107). Friedrich Schlegel aponta o extraordinário alcance especulativo do drama shakesperiano como exemplo consumado do interesse moderno em conciliar o comedimento do espírito e a desmesura da natureza (Guthke, 1968, 109).
A teoria francesa da tragicomédia como gênero especificamente moderno da conciliação dos contrários se encontra no prefácio que Victor Hugo escreveu em 1827 para o seu drama Cromwell. Na defesa calorosa da nova forma dramática, o poeta alega que o feio e o belo, o disforme e o gracioso, o grotesco e o sublime, o bem e o mal, a sombra e a luz coexistem como parelhas que se harmonizam com a natureza ambivalente da realidade cósmica e com o caráter dúplice do homem que congrega em si mesmo o corpo e a alma, a matéria e o espírito, o sensível e o inteligível (Hugo, 1976, 25-35). Em oposição aos valores tradicionais da arte, que confutam a duplicidade em nome da unidade abstraída da alteridade, Victor Hugo argumenta que a função da poesia moderna consiste em substituir a melodia monótona da organicidade do uno unitário pela tensão harmônica da identidade e da diferença. Na reversa harmonia, o sublime e o grotesco se atraem e mutuamente se gratificam, de modo que o sublime se torna mais sublime, e o grotesco se revela mais grotesco. No contraste e pelo contraste é que o sentido de tudo que existe se intensifica e se perfaz: "A salamandra faz sobressair a ondina; o gnomo embeleza o silfo" (Hugo, 1976, 31).
Na visão hugoana, o grotesco se define como forma embrionária da comédia, e o sublime se reporta à epopéia e à tragédia, gêneros considerados nobres, belos e solenes pela tradição historiográfica da literatura. A harmonização do sublime e do grotesco,
postulada pelo manifesto em forma de prefácio, equivale à interpenetração dinâmica da comédia e da tragédia, que se realiza magistralmente na dramaturgia shakesperiana. Poeta supremo da tragicomédia moderna, Shakespeare é, por antonomásia, "o drama que funde sob um mesmo alento o grotesco e o sublime, o terrível e o bufo, a tragédia e a comédia" (Hugo, 1976, 37). A poesia correspondente aos tempos modernos tem por função realizar a mimesis do real que se realiza, tanto na ambivalência do homem tensionado entre o impulso espiritual e a solicitação corporal, quanto na duplicidade originária da natureza que se revela e, simultaneamente, se oculta no eterno processo da criação e da nadificação. A vida em geral, já de si, manifesta-se como ato essencialmente poético de formação e transformação das formas incessantemente renovadas. Na sintonia com a unidade da natureza que se desdobra na multiplicidade das suas criações, o poeta tragicômico se compraz na mobilidade pura, que o faz passar "da seriedade ao riso, das excitações cômicas às emoções dilacerantes" e que o singulariza como ser que contém em si mesmo os contrários, porque se nos apresenta "dotado com a alma de Corneille e a cabeça de Molière" (Hugo, 1976, 69 e 84).
A tragicomédia, concebida como forma poética que remonta ao Satyrikon, se mantém, no decurso de sua evolução histórica, como o gênero radicalmente moderno da literatura ocidental. Moderno, não no sentido cronológico de ser atual ou de estar na moda em determinada época, mas na acepção poetológica da originalidade. O estatuto tragicômico como parâmetro de avaliação estética permite compreender, numa perspectiva através dos séculos, que os poetas Eurípides e Shakespeare são contemporâneos. O argumento de que o termo tragicomédia é uma invenção tardia não se justifica por dois motivos. Primeiro, porque a forma tragicômica do Satyricon precede a separação da tragédia e da comédia. Segundo, porque o uso do termo tragicomédia, que ocorre pela primeira vez no prólogo do drama de Plauto, intitulado Anfitrião, corresponde à necessidade da invenção de uma palavra latina, que traduza com precisão a síncrise da comédia e da tragédia, contida no mito e no culto de Dioniso, o deus que que ultrapassa limites e distinções de gênero e de classe social:
"Primeiro, vou dizer aquilo que vos vim pedir; depois vou revelar o argumento desta tragédia. Por que é que franziste o sobrolho? Por ter dito que seria uma tragédia? Sou deus, de modo que, se quereis, mudo já isto; farei que de tragédia passe a comédia, e exatamente com os mesmos versos. (...) O que eu vou fazer é que seja uma peça mista, uma tragicomédia, porque me não parece adequado que tenha um tom contínuo de comédia a peça em que aparecem reis e deuses. E então, como também entra nela um escravo, farei que seja, como já disse, uma tragicomédia (tragicomoedia)" (Plauto, 1952, 8)
A conexão da tragicomoedia de Plauto e dos dramas e teorias dramáticas dos séculos XV até o XVII, estabelecida por Guthke, permite compreender a vitalidade do gênero tragicômico. As tragédias de final feliz (tragedias di lieto fin ) de Giraldi Cinthio e as variantes terminológicas das comédias tristes, do drama de prazer e dor
(Lust-und Trauerspiel ), drama comico-tragicum, drama misto, comédia trágica, drama comitrágico e drama tragicômico corroboram o interesse dramático por uma forma de arte que contenha em si mesma a interação dos contrários. A indistinção da tragédia e da comédia se comprova nos subtítulos de várias peças: comédia ou tragédia, na Infância de Cristo (1557), de Hans Sachs; comédia trágica, no Cristo Redivivo (1543), de Nicholas Grimald. No prólogo de Baptistes (1603), de Cornelius Schonaeus, afirma-se que o drama é "uma nova tragédia sacra", (sacra et nova tragicomoedia), que se notabiliza por representar "um argumento trágico" no "estilo cômico" (argumentum tragicum in oratio comica) (Guthke, 1968, 19-24). Copiosa documentação comprobatória da gênese e do desenvolvimento da tragicomédia na Alemanha, França, Itália e Inglaterra se compagina nos livros de Karl S. Guthke (1961), T. Herrick Marvin (1955), Cyrus Hoy (1964), Henry Lancaster (1907), Frank Ristine (1910), e J. Styan (1962).
Os dramas que representam a divergência convergente ou a convergência divergente do trágico e do cômico suscitam emoções discordantes e complementares. Alegria e dor, o jocoso e o sério, o risível e o terrível simultaneamente se atraem e se repelem na estrutura complexa da tragicomédia. O efeito dramático da peça genuinamente tragicômica desencadeia um impacto tão dúbio, que o espectador ou leitor não sabe se ri ou chora. Convém observar que a conversão poética da oposição tradicionalmente antagônica da tragédia e da comédia na oposição complementar da antiga e nova síntese teatral da tragicomédia realiza a recuperação da mundividência dionisíaca. Na visão desdobrada do deus do duplo domínio do ser e do nada, a tragicomédia representa o drama universal da vida que não subsiste, senão porque a morte existe. O otimismo triunfante e o pessimismo resignado são igualmente refutados por pensadores e poetas educados na escola ditirâmbica do Satyrikon de Dioniso. A tragicomédia vinculada ao Satyrikon circunscreve a harmonia suprema do saber acerca do ser, porque lhe pertence a dissonância como a mais profunda forma de consonância. A gaia ciência dionisíaca ensina que a vida não cessa de morrer e que a morte não cessa de nascer. O riso e o choro são o anverso e o reverso do mundo regido pelo deus da vida e da morte.
Na história da literatura ocidental, a obra de Machado de Assis sobressai como perfeita expressão da mundividência tragicômica. A concepção da complementariedade dos contrários se comprova em todos os textos do escritor brasileiro. O ditame machadiano da conversão do raciocínio dicotômico no pensamento que se dialetiza na conciliação dos opostos transmuta os valores compendiados na inflexão inercial da mundividência monológica. Aos dezoito anos, no ensaio polêmico "Os Cegos", Machado de Assis ironiza o dualismo antagônico, que constitui o princípio articulador da tradição ontoteológica da metafísica. A separação platônica do sensível e do
inteligível, de que decorrem as oposições do corpo e da alma ou da matéria e do espírito, o jovem ensaísta a submete a uma desconstrução irônica:
"Nós não somos nem espiritualista puro, nem materialista; harmonizamos as doutrinas de ambas as escolas e seguimos assim em ecletismo com o qual nos damos às mil maravilhas" (Machado de Assis, 1965, 62).
No exercício da crítica teatral, Machado de Assis exalta a "fusão da tragédia e da comédia, operada por Shakespeare sob a forma do drama" (Machado de Assis, 1961a, 73). A separação do trágico e do cômico, canonizada por Aristóteles e reiterada ao longo dos séculos nos compêndios poetológicos, converte a tensão harmônica das duas formas dramáticas da tragicomédia na oposição pura e simples dos gêneros da tragédia e da comédia, ignorando que a forma suprema do drama se realiza na reversa harmonia do "verso valente da tragédia" e da "frase ligeira e fácil com que a comédia nos fala ao espírito" (Idem, 146). Como cronista, reconhece que o princípio lógico do terceiro excluído, que pretende anular a contradição do saber acerca do ser, não tem validade na arte nem na vida, porque não corresponde à natureza dúplice do homem, que traz impresso na própria fisionomia o sinal de dois em um, e de um em dois:
"Que é o homem senão uma duplicata de alma e corpo? Uma duplicata de olhos, de orelhas, de braços, de pernas, de ombros. Tem, é certo, um só nariz; mas esse nariz é uma duplicata de ventas. Tem uma só boca, mas essa boca é uma duplicata de lábios.
Tudo neste mundo é duplicata" (Machado de Assis, 1961b, 209).
Educado na eurritmia dos contrários que se complementam, o cronista declara que "a monotonia de um céu pasmadamente azul" se lhe afigura reles e vulgar, porque "a vida sem peripécias, sem novidade, sem esse relâmpago do inesperado" se assemelha à pior das mortes. No mundo próprio do homem, belo e feio se irmanam, pois "o aleijão é necessário à harmonia das coisas; o monstro é o complemento da beleza". A sabedoria consiste no reconhecimento de que a tensão dos opostos perpassa a natureza ambivalente do homem e do mundo:
"Os antigos, que entendiam do riscado, casaram Vênus a Vulcano; e a lenda cristã reuniu a beleza física à fealdade moral, na pessoa do anjo réprobo" (Machado de Assis, 1961c, 43).
Na forma dramática do conto "Viver!", articulada pelo diálogo de Ahasverus e Prometeu, Machado de Assis representa o sentido tragicômico do mundo propriamente humano. O judeu errante, depois de viver milheiros de anos, sente-se enfarado da existência, mas se consola ao perceber que a espécie humana está morta e que ele é o último homem prestes a morrer. Sentado numa rocha simbolicamente situada nos confins da terra, que se lhe apresenta como exteriorização perceptível da sua alma
petrificada pelo peso do tédio, delicia-se com a idéia da morte como potência liberadora do fardo milenar da mortificação. Subitamente, ouve a voz do deus grego Prometeu, que ressoa em contraste irônico com a disposição anímica desesperada de Ahasverus. O criador dos homens surge in persona no palco do evento que se acredita final, afirmando que a vida não se encerra com a morte do último dos homens. Prometeu alega que a toda espécie que morre sucede outra espécie melhor, que exsurge para a vida. O homem responde que não se interessa por delícias póstumas e que nada lhe compensa o martírio sofrido. O deus replica que a pena celestial, que o condenou a vagar por tanto tempo, foi benévola, porque lhe permitiu conhecer o todo da vida, e não apenas a parte. Na unidade em si mesma diversa do duplo domínio dionisíaco, que se manifesta na "dança alternada da natureza" em que se albergam a origem primeira e o fim último de tudo que devém no horizonte móvel do tempo, um ponto de vista somente se legitima quando se liga a outro, que lhe é oposto:
"Os outros homens leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. Que sabe um capítulo de outro capítulo? Nada; mas o que os leu a todos, liga-os e conclui. Há páginas melancólicas? Há outras joviais e felizes. À convulsão trágica precede a do riso, a vida brota da morte, cegonhas e andorinhas trocam de clima, sem jamais abandoná-lo inteiramente; é assim que tudo se concerta e restitui. Tu viste isso, não dez vezes, não mil vezes, mas todas as vezes; viste a magnificência da terra curando a aflição da alma, e a alegria da alma suprindo à desolação das coisas; dança alternada da natureza, que dá a mão esquerda a Jó e a direita a Sardanapalo" (Machado de Assis, 1988a, 136).
2. O drama tragicômico de Quincas Borba
No prólogo da segunda edição de Quincas Borba, Machado de Assis reafirma o parentesco entre Memórias póstumas de Brás Cubas e o romance protagonizado pelo filósofo do humanitismo. O romancista reconhece, não somente a semelhança, mas também a divergência das obras:
"Já na primeira edição se disse (capítulo IV) que o título do livro é o nome de um personagem que apareceu nas Memórias póstumas de Brás Cubas. Se lestes os dous livros, sabeis que é o único vínculo entre eles, salvo a forma, e ainda assim a forma difere no sentido de ser aqui mais compacta a narração" (Machado de Assis, 1988b, 19).
A convergência ocorre em duas seções narrativas de Quincas Borba. A primeira, no capítulo treze, refere-se à carta recebida por Rubião, em que Brás Cubas lhe comunica o falecimento de Quincas Borba. A segunda, no capítulo cento e cinqüenta e nove, descreve a reação de Sofia ao ler a carta em que Maria Benedita confessa a sua felicidade junto do marido Carlos Maria. Brás Cubas e Rubião se relacionam como discípulos de Quincas Borba. Sofia se aproxima de Brás Cubas na visão irônica do narrador, que a representa com nojo na alma e desprezo pelas mãos, provocados pela
confissão de alegria conjugal da amiga. Sob o impacto da notícia, Sofia transpõe em vida o limiar da morte, assumindo, ainda que provisoriamente, a condição existencial do defunto autor:
"Sofia meteu a alma em um caixão de cedro, encerrou o de cedro no caixão de chumbo do dia, e deixou-se estar sinceramente defunta. Não sabia que os defuntos pensam, que um enxame de noções novas vem substituir as velhas, e que eles saem criticando o mundo como os espectadores saem do teatro criticando a peça e os atores" (Machado de Assis, 1988b, 230).
No capítulo cento e doze, o narrador louva o método dos velhos livros, "em que a matéria do capítulo era posta no sumário: "De como aconteceu isto assim, e mais assim "(171). Em Quincas Borba, o procedimento metatextual da súmula exegética não se aplica às seções narrativas, mas ao título da obra. O nome do filósofo supõe a metalinguagem crítica do humanitismo. Apesar das diferenças de pessoa gramatical e da forma mais compacta ou menos livre da narração, o romance borbista se irmana com Memórias póstumas de Brás Cubas, sobretudo porque põe em ação o pensamento que se divulga no princípio de humanitas e na lei da equivalência das janelas. Ambos convergem na adoção da forma dramática de fabulação, que se caracteriza pela subordinação do texto narrativo ao metatexto do humanitismo e do bivocalismo da consciência em polêmica consigo mesma. As versões romanescas de um mesmo drama protagonizado por Brás Cubas e Quincas Borba constituem o testemunho inequívoco do estatuto calculado da arte machadiana. A invenção narrativa do defunto autor e a encenação do drama tragicômico do filósofo humanitista mutuamente se clarificam.
No capítulo sexto de Quincas Borba, o inventor do humanitismo se vale da morte da avó para expor ao discípulo Rubião o sentido do novo sistema filosófico. De acordo com a explanação borbista, a sege que atropelou e matou a sua avó confirma o princípio de humanitas. A motivação humanitista da ocorrência se traduz no argumento de que o cocheiro, compelido pela fome, fustigou as mulas para satisfazer mais prontamente o seu apetite. Aconteceu, no entanto, que encontrou um obstáculo - a avó do filósofo - e teve de derrubá-lo. Quincas Borba conclui o raciocínio, enfatizando que o acontecimento resultou de "um movimento de conservação: Humanitas tinha fome. (...) Humanitas precisa comer." Ao perceber que Rubião não se conforma com a morte da pobre mulher, o filósofo lhe assegura que não há morte:
"O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum" (Machado de Assis, 1988b, 28).
Na alternância eterna da expansão e da contração, subage o princípio indestrutível de humanitas. Mundo e homem se afeiçoam e se correspondem no ritmo do devir. A forma humana e mundana de tudo que existe surge e desaparece no fluxo ininterrupto
do tempo, mas a força formativa da totalidade cosmo-antropológica perdura para sempre. A morte significa o início de uma nova vida, e não somente o fim de um determinado regime existencial. Tudo se forma e se transforma no incessante movimento de criação e nadificação. No drama cosmo-antropogônico do humanitismo, nada se perde, porque o aniquilamento de um ser propicia o surgimento de um outro. O lucro e o prejuízo são relativos. Não comprometem a economia geral da existência. De acordo com a mundividência do borbismo, que constitui uma versão tragicômica das cosmogonias e escatologias tradicionais, os valores supremos do idealismo devem ser confutados, e não cultuados. Quincas Borba contesta o primado moral da ação edificante com o argumento humanitista de que a preservação da comunidade depende da guerra, e não da paz. Para demonstrar o caráter benéfico da conduta belicosa, apresenta a Rubião o exemplo de duas tribos famintas diante de um campo de batatas, capaz de satisfazer a necessidade alimentar de uma só das sociedades tribais. O pregador do humanitismo solicita do discípulo o reconhecimento da atitude absurda dos pacifistas:
"A paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas" (Machado de Assis, 1988b, 28).
Os episódios da morte da avó e da disputa das tribos famintas são ironicamente justapostos no capítulo sexto como súmulas didáticas do princípio do humanitismo. A equivalência funcional implica a similaridade dos fatos narrados. Os acontecimentos não se combinam na ordem lógica da correlação consecutiva, mas se representam como variações em torno de uma mesma lei narrativa, que se compagina no postulado filosófico de humanitas. A subordinação dos axiomas de conduta ao primado teórico do humanitismo transforma os personagens de Quincas Borba em protagonistas do processo de alienação da sociedade. O ditame de que humanitas precisa comer desencadeia a luta de todos contra todos. No mundo regido pela antrofagia social, não resta outra alternativa, senão comer ou ser comido. O alcance exegético do sistema filosófico do humanitismo não se limita à desconstrução satírica do positivismo e da doutrina naturalista, mas se distende na perspectiva mais ampla da representação dos atos regulados pela trama das relações humanas no regime social da exploração generalizada. A ironia suprema do romance machadiano reside na elaboração de uma teoria atribuída a um filósofo louco, mas que corresponde ao comportamento alienado de homens socialmente considerados normais. Na visão criticamente armada de Antonio Candido, o humanitismo representa a alienação da sociedade, de que decorre a reificação da personalidade:
"Os críticos, sobretudo Barreto Filho, que melhor estudou o caso, interpretam o Humanitismo como sátira ao positivismo e em geral ao naturalismo filosófico do século XIX, principalmente sob o aspecto da teoria darwiniana da luta pela vida com sobrevivência do mais apto. Mas além disso é notória uma conotação mais ampla, que transcende a sátira e vê o homem como um ser devorador em cuja dinâmica a sobrevivência do mais forte é um episódio e um caso particular. Essa devoração geral e surda tende a transformar o homem em instrumento do homem, e sob este aspecto a obra de Machado se articula, muito mais do que poderia parecer à primeira vista, com os conceitos de alienação e decorrente reificação da personalidade, dominantes no pensamento e na crítica marxista de nossos dias, e já ilustrados pela obra dos grandes realistas, homens tão diferentes dele quanto Balzac e Zola" (Candido, 1970, 28-9).
O relacionamento entre o mestre e o discípulo sintetiza o intercâmbio do vencedor e do vencido no sistema do humanitismo. Quincas Borba submete Rubião ao regime da nova filosofia e o convence a adotá-la como regra de conduta para bem viver. O discípulo assimila a doutrina do poder e suplanta o mestre. A reversibilidade das situações simultaneamente equivalentes e opostas determina o mecanismo estrutural do enredo de Quincas Borba. A análise das seqüências do romance, efetivada por Teresa Pires Vara, permite concluir que a correlação reversível do filósofo e do aprendiz de humanitismo constitui a matriz narrativa do drama representado:
"(...) o esquema elementar que caracteriza a narrativa-padrão se desdobra em duas seqüências equivalentes e complementares, caracterizando, por um lado, as relações degradadas entre Palha, Sofia e Rubião no processo de exploração do capitalista; por outro lado, define as relações entre Camacho e Rubião, num processo equivalente que, estruturado por um sistema de encaixe, permite novo desdobramento nas seqüências seguintes. Enquanto a exploração de Palha e Sofia se desenvolve na seqüência principal (I-LXXIX), o processo de exploração de Camacho se desenvolve numa seqüência secundária (LIV-LXXIX), como variante objetiva do modelo" (Vara, 1976, 44).
Herdeiro da fortuna de Quincas Borba, Rubião se transfigura. O poder que lhe confere o dinheiro no sistema político de hierarquia e coerção da sociedade pautada pelo valor econômico descerra-lhe o amplo horizonte do sentido compendiado na fórmula vitoriosa do apólogo das batatas. Somente ao abandonar a condição subalterna de professor e assumir a posição privilegiada de capitalista é que compreende o alcance significativo do ditame de humanitas. No capítulo dezoito, o narrador ironiza a conversão humanitista do personagem que se torna capaz de decifrar o enigma das batatas ao caraterizá-la como decorrência pura e simples da substituição do ponto de vista do vencido pela visão do vencedor:
"- Ao vencedor, as batatas!
Tão simples! tão claro! (...) Ia descer de Barbacena para arrancar e comer as batatas da capital. (...)
Gostava da fórmula, achava-a engenhosa, compendiosa e eloqüente, além de verdadeira e profunda. (...)
Não a compreenderia antes do testamento; ao contrário, vimos que a achou obscura e sem explicação. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista, e que o melhor meio de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão" (Machado de Assis, 1988b, 42).
Na equação humanitista da vontade de potência, ser vencedor significa comer. Os vencidos são comidos. As batatas designam os objetos comestíveis, que se classificam de acordo com a voracidade dos poderosos. Endinheirado, Rubião pretende comer Sofia, que se finge disposta a satisfazer o apetite do capitalista a fim de auxiliar o marido, que deseja abocanhar o dinheiro do falso conquistador. Ávido de notoriedade, Rubião se torna sócio do jornal de Camacho com o deliberado propósito de se promover através da publicação dos atos que lhe confirmem a nobreza de caráter. Astuciosamente, Camacho absorve o investimento monetário de Rubião e se torna proprietário exclusivo da empresa jornalística. Os fatos narrados ilustram o princípio de reversibilidade, que articula a estrutura de seqüências narrativas simultaneamente opostas e equivalentes. Na primeira, Rubião persegue Sofia e consegue dominar-lhe o marido. A situação se inverte, e Rubião vem a ser dominado pelo casal. Na segunda, Rubião incialmente domina Camacho, mas ao fim aparece submetido ao domínio do jornalista.
As vicissitudes dramáticas dos personagens que intercambiam posições no sistema de dominação social obedecem ao estatuto calculado do enredo persecutório do humanitismo. Os agentes que protagonizam o drama da perseguição desencadeada pela fome de humanitas realizam um verdadeiro mimetismo da violência geral, em que o violento vem a ser violentado, e o violentado assimila o poder do violento, num rodízio permanente do perseguidor que se torna perseguido e do perseguido convertido em perseguidor. Na sociedade organizada sob o regime do impulso predatório, os seres humanos se relacionam como predadores e presas, que se revezam no círculo vicioso das violentações e agressões recíprocas. O valor monetário, na economia capitalista, aciona o dispositivo do ritual persecutório, e todos aparecem comprando ou sendo comprados. A exploração advogada pelo capitalismo constitui notável ilustração de uma fase do movimento universal da espoliação preconizada pelo humanitismo.
Na perspectiva universal da filosofia humanitista, o processo da alienação e a decorrente reificação da personalidade resultam da vocação imperial da natureza humana, e não apenas de uma de suas formas de manifestação histórica. O ideal de humanização, instaurado pelo mito genuinamente grego do homem, condiciona a subordinação da alteridade ao estatuto da identidade. Privilegiado como protótipo do sentido do mundo e dos entes intramundanos, o culto do homem se impõe como desígnio absoluto da cultura grega. Os próprios deuses são submetidos ao arbítrio humano, conforme se verifica em Hesíodo, que se nos apresenta como legislador dos nomes divinos, precisamente ao substituir a mitologia da esparsa presença dos signos hierofânicos pela organização genealógica dos agentes da diacosmese olímpica. Sub specie hominis, as potências primevas são denominadas a fim de serem dominadas. Os
poderes elementares que resistem ao pendor antropofílico dessa revolução teogônica têm de suportar o exílio de uma existência tartárica num estado plutônico-subterrâneo.
A invenção grega do mito do homem constitui o prólogo em que se anuncia o drama antropocêntrico da civilização ocidental. A forma humana dos deuses gregos, o primado figurativo da imagem do homem nas manifestações artísticas da civilização helênica, a reversão filosófica do problema cosmológico para o antropológico, que culmina em Sócrates, Platão e Aristóteles; o incontido pendor antropofílico da poesia, que se traduz na militância no humano e pelo humano, e o Estado grego, cuja essência se compreende sob o ponto de vista da formação integral do ser humano, tudo, enfim, são expressões do drama passional do culto do homem, a que corresponde a trama processual de uma cultura tão centrada no regime da auto-representação do homem, que o helenista Werner Jaeger, valendo-se de um neologismo, a caracterizou como cultura antropoplástica (Jaeger, 1966, 13). O primado grego do sentimento vital antropocêntrico instaura a tradição humanista da civilização ocidental, que se consuma na metafísica do sujeito imperialmente concentrado em si mesmo.
A filosofia moderna celebra o conúbio do ser com a consciência, e o eu humano se impõe como fundamento de tudo que existe. Em conformidade com os impulsos da subjetividade, representa-se o mundo como desdobramento da interioridade da consciência na exterioridade do universo. O horizonte do mundo humanamente concebido como unidade de uma projeção de relações sistemáticas permite tão-somente a realização do que se compagina com a força plasmadora do sujeito que se consagra ao ingente esforço da auto-representação. Como a unidade do todo condiciona todas as partes, e como cada parte significa o todo numa espécie de concentração punctual, impõe-se a conclusão de que a interioridade unitiva do sujeito imperial reproduz o universo de acordo com a sua própria pauta, não só ao aplicar-se a tudo o esquema correlativo de suas medidas pretensamente paradigmáticas, mas também ao ampliar ou diminuir a totalidade do real em consonância com a sua visão napoleônica ou liliputiana. Em toda e qualquer eventualidade, a representação sujeitiforme dissolve a ontologia da alteridade na metafísica da subjetividade, tornando disponível cada um dos entes como uma entidade concordante com o sistema hominídio em sua totalidade uniformizadora.
Ao determinar a existência do centro unificador do sentido do mundo, o homem interioriza o sentido de todas as manifestações entitativas, edificando o seu poder sobre as ruínas de um universo anterior, como nas seqüências das gerações divinas do poema teo-cosmogônico de Hesíodo. O ente em geral, projetado pelo sujeito imperial, aparece como negação projetiva da alteridade. Os atos que disponibilizam o conhecimento revelam o mundo prefigurado no mitologema grego do homem e consumado no filosofema cartesiano da subjetividade. A fulguração ofuscante do sujeito confinado no
ângulo fixo de sua mundividência estática obscurece a luz natural do mundo, porque submete o dinamismo sensível da matéria da vida ao dispositivo inteligível da estrutura a priori da subjetividade. Desintegradas pelo atomismo representacional dos esquemas de inteligibilidade do sujeito imperial, as coisas perdem a carnadura concreta e se transmutam em simulacros.
A vontade de potência da subjetividade se representa na projeção do mundo que espelha a sua constituição transcendental, traduzindo as suas valorizações, preferências e escolhas. No regime monádico do sujeito imperial, os outros eus se reduzem ao nível infra-ôntico dos objetos manipuláveis. A insana disputa de todos contra todos, que se dramatiza no romance Quincas Borba, decorre da vocação despótica do intelecto voluntarioso. O predomínio da guerra se justifica como meio de resolver os interesses em conflito. A versão romanesca do princípio de humanitas submete o sistema axiológico da tradição humanista da civilização ocidental a uma desconstrução radicalmente irônica, sobretudo porque mostra que o humanitismo constitui a essência recôndita do humanismo. Nos domínios do mundo criado à imagem e semelhança do homem, todos são perseguidores e simultaneamente perseguidos, porque vivem sob o acicate do mecanismo da perseguição de um centro de poder que somente pode ser assumido por um mandatário. Efeito teórico da constituição ontológica, e não simplesmente econômica do homem ocidental, o novo humanismo machadiano assegura que o homem não é apenas o veículo, mas também o passageiro e o cocheiro de humanitas.
O humanismo compendiado no sistema do humanitismo implica o reconhecimento da vigência histórica da lógica da perseguição ou da dialética da violência solidariamente vinculada à metafísica da subjetividade. O homem violento atua como sujeito imperial, que não reconhece a alteridade do outro. O cogito cartesiano limita-se a conjecturar a simples distinção numérica, não se dignando a considerar o diferir qualitativo do outro. Cartesianamente, viver não significa conviver, nem existir equivale a coexistir, porque o outro eu não se concebe, senão como objeto de uma inferência analógica. A filosofia inglesa extrai conseqüências imediatas dessa teoria atomizada do sujeito humano. Hobbes concebe a pulsão da subjetividade como egoísmo belicoso, que provoca a luta de todos contra todos. Diversos pensadores compartilham a concepção hobbesiana, principalmente Bentham, que a desdobra na teoria do utilitarismo. Em oposição ao egocentrismo, os moralistas advogam a simpatia como ideal comunitário da existência. Shaftesbury, Hutcheson e Hume apregoam os valores sociais da benevolência, do amor ao próximo e da justiça. O apelo à solidariedade culmina no livro intitulado Teoria dos sentimentos morais do economista Adam Smith (Laín Entralgo, 1983, 32-79).
O axioma básico da teoria moral de Adam Smith consiste em exortar o homem a comportar-se de modo a suscitar assentimento e simpatia de um espectador imparcial. O preceito do economista preludia o imperativo categórico de Kant. No capítulo quinto da segunda parte de sua obra denominada O formalismo na ética e a ética material dos valores , Max Scheler refuta a ética da simpatia propugnada pelo moralismo smithiano com o argumento de que o sentimento moral não avalia o pendor ético da própria pessoa, mas deriva-o de um espectador ou juiz imparcial. Além disso, nem todo juízo ético se exprime num sentimento de simpatia, bastando conferir o diálogo da consciência de um sujeito que avalia o sentido de sua vida, confirmando o que lhe convém e renegando o que lhe causa prejuízo. Que significa a simpatia para um homem inocente, mas socialmente considerado culpado, senão o absurdo de ter que assumir a culpabilidade, simplesmente porque todos se revelam antipáticos à sua causa? E que dizer, afinal, do sujeito destituído de consciência moral, mas que cinicamente consegue angariar a simpatia dos jurados?
Importa observar que a ética da simpatia coaduna-se com o utilitarismo preconizado por Jeremy Bentham em sua Deontologia ou A ciência da moralidade. A moral do egoísmo reforça a ética da solidariedade. Para a deontologia, o egoísmo se torna abominável somente quando se manifesta de modo absoluto, esquecendo-se de ativar a simpatia alheia. O sujeito deve ser benévolo e simpático a fim de granjear a benevolência e a simpatia dos outros. Além de se mostrar simpático, o egoísmo de Bentham se revela filantrópico. Centrada em si mesma, a subjetividade sente-se compelida ao uso de duas violências contra a alteridade do outro eu: lº) aceitando-a simpaticamente, porque corresponde aos seus interesses racionais, afetivos e volitivos; 2º) recusando-a antipaticamente, porque não se ajusta aos reclamos voluntariosos de sua disposição anímica. No sistema deontológico, a simpatia e a antipatia são comandadas pelo impulso egoísta do sujeito imperial. A invocação do humanismo e da ética da solidariedade e do amor não altera em nada a lógica da representação persecutória. Até mesmo porque a tradição milenar do humanismo constitui o fundamento da subjetividade despótica. Compreende-se, portanto, o motivo por que Machado de Assis não indica uma solução para o drama da existência submetida à trama da violência. O problema não se resolve doutrinariamente, porque depende da resolução de todos e de cada um dos seres humanos.
A representação de humanitas como princípio que configura o universo ficcional de Quincas Borba se aperfeiçoa no decurso da elaboração do romance. A versão definitiva, estampada em livro pelo editor Garnier, resultou das modificações decisivas a que foi submetida a primeira publicação no quinzenário A estação (Machado de Assis, 1969). Na revisão acurada do autor, a seqüência linear e cronológica da narrativa publicada na revista se transmuta na forma dramática da justaposição descontínua dos
eventos narrados. A trama lógica das ações se converte na propulsão dialética do drama de paixões. O efeito mais tangível da sutileza artística com que o romancista alterou a estrutura narrativa se revela na conversão dos capítulos vinte e vinte e um da primeira redação nos capítulos um e dois da versão definitiva do romance. Reordenados e estilisticamente reduzidos a duas cenas breves, os capítulos primeiro e segundo são funcionalmente justapostos como representações dramáticas do litígio de vozes na interioridade anímica de Rubião. No primeiro capítulo, o herdeiro da fortuna de Quincas Borba aparece fitando a enseada de Botafogo. O narrador ironicamente acentua que o olhar do novo capitalista avidamente se apropria do mundo circundante ao mirar as chinelas, a casa, o jardim, os morros, o ceú. Na visão do do personagem "tudo, desde as janelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade":
"- Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou; ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça..." (Machado de Assis, 1988b, 21).
A assimilação do humanitismo se traduz na supervisão geral do sujeito revestido do poder que lhe confere o dinheiro e na reflexão de que os males dos outros rendem o seu próprio bem. O romance se inicia, portanto, com o reconhecimento irônico do supra-senso da fórmula das batatas. O pobre professor, que não compreendia o sentido alegórico da luta das tribos, deixa a condição de vencido e assume a estatura do vencedor, que lhe permite decifrar o que lhe parecia enigmático. A significação obscura subitamente se clarifica, sobretudo porque a fórmula tautegoriza o seu próprio ser, e não se limita a alegorizar uma outra existência. A abstração alegórica se concretiza na dicção que simboliza a sua vitória. Além de assumir a teoria do humanitismo, Rubião adota a lei da equivalência das janelas para resolver os impasses de sua consciência, conforme se verifica no segundo capítulo:
"Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... - Bonita canoa! - Antes assim! - Como obedece bem aos remos do homem! - O certo é que eles estão no céu! " (Machado de Assis, 1988b, 21-2).
O capítulo supracitado se inicia com a enunciação exclamativa do narrador concebido como analista da natureza contraditória da existência humana. No enunciado seguinte, o narrador se comporta como encenador dos caracteres que se antagonizam na intimidade ambivalente da consciência cindida em polêmica consigo mesma. A enunciação interrogativa representa a réplica passional da voz do coração ao apelo moral do espírito racional. O restante do capítulo dramatiza o bivocalismo da
consciência tensionada entre duas interpelações opostas, uma que o aconselha a defender o interesse pessoal, e a outra que o acusa de lesar o direito alheio. Submetido ao impacto dúbio das vozes que se dialetizam, Rubião se vale da lei da equivalência das janelas, segundo a qual o melhor meio de neutralizar o remorso da consciência consiste em abrir uma janela para o outro lado da moral, precisamente o lado que advoga em causa própria. O ar fresco que lhe ventila a consciência angustiada comicamente se expressa na canoa que se move em obediência ao cálculo do homem. A catarse cômica do drama de consciência se realiza na substituição do pensamento relativo à morte da irmã e do filósofo pela astúcia diversiva da ponderação do movimento de uma simples canoa no mar.
O princípio do humanitismo, intimamente associado à lei da equivalência das janelas, preside à gênese e ao desenvolvimento dramático da estrutura narrativa de Quincas Borba. A intimidade ambivalente da consciência se desdobra no conflito intersubjetivo dos personagens submetidos ao sistema de hierarquia e coerção da sociedade. No capítulo noventa e seis, que desempenha a função de súmula exegética das ações e dos gestos motivados pela forma tirânica do comportamento social, o narrador ironiza as comoções opostas do diretor de banco. A primeira se refere ao sentimento de inferioridade que o subjuga na audiência com um ministro de Estado, que o trata com absoluto desdém. Humilhado e ressentido, o diretor se dirige à casa de Palha, que o recebe com as mesuras e os apoiados de cabeça. Imediatamente o diretor se reanima, adota o estilo superior, distanciado e desdenhoso do ministro e submete Palha a uma situação vexaminosa. No mundo regido pelo ditame de humanitas, o agredido e o agressor se revezam no interminável processo da agressão generalizada. O comportamento do diretor exemplifica a transposição da lei da equivalência das janelas para o amplo domínio do relacionamento público. Subjugar e tiranizar o outro equivale a compensar uma atitude subalterna.
A funcionalidade artística da lei da equivalência das janelas se consuma na representação do drama tragicômico de Rubião. Os primeiros sintomas da alienação do personagem transparecem nos monólogos que se alternam em sua consciência dividida. Uma voz o recrimina por desejar a mulher do Palha, e a outra o liberta do sentimento de culpa, atribuindo a Sofia a iniciativa da sedução. No capítulo vinte e sete, as vozes em litígio são demarcadas por travessões, sublinhando a cisão de uma consciência que discute consigo mesma. O fenômeno da alternação dos monólogos como expressão dramática do desdobramento da personalidade continua no capítulo quarenta cinco. Desdobrado no eu e no outro, Rubião se acusa e se defende ao sofrer o impacto dúbio do amor por Sofia e da lealdade devida ao suposto amigo Palha. Valendo-se da ironia que o caracteriza, o narrador assinala a situação difusa de Rubião:
"Confuso, incerto, ia a cuidar na lealdade que devia ao amigo, mas a consciência partia-se em duas, uma increpando a outra, explicando-se, e ambas desorientadas..." (Machado de Assis, 1988b, 75).
Os monólogos de Rubião são monodiálogos, que lhe traduzem a cisão e o desdobramento da personalidade. No acordo e desacordo consigo mesmo, o personagem se duplica e se contempla como uma outra pessoa. Ao se alienar de si mesmo e assumir a máscara do filósofo do humanitismo, Rubião chega ao limite extremo da heteromorfose, que consiste em ouvir a voz interior da consciência como se fosse a enunciação de Quincas Borba. No capítulo setenta e nove, o protagonista do drama da alienação psíquica imagina que a pergunta que lhe ressoa na mente provém do espírito de Quincas Borba, supostamente reencarnado no cachorro homônimo:
"Era assim que o nosso amigo se desdobrava, sem público, diante de si mesmo" (Machado de Assis, 1988b, 129).
Na representação da heteromorfose de Rubião, que se expressa no anelo dramático de adotar a personalidade revestida do poder imperial, o narrador machadiano atinge o máximo de sua perfeição artística como encenador de dramas tragicômicos. A mascarada e a pseudomorfose do ex-professor travestido de imperador adquirem o sentido de uma peça em que se interpenetram os estilos opostos da tragégia e da farsa, do sublime e do grotesco, do patético e do ridículo. No capítulo oitenta e um, o aspirante a imperador, antes de cuidar da noiva indispensável à celebração das pretendidas bodas, imagina as pompas matrimoniais, os grandes e soberbos coches, o cocheiro fardado de ouro, os condes, cristais da Boêmia, louça da Hungria, vasos de Sèvres, etc. No capítulo subseqüente, o narrador assinala que as noivas imaginadas por Rubião constituem variações figurativas de Sofia. A justaposição dos capítulos traduz a aliança do poder político e da força erótica na inflação psíquica do personagem que confere imaginariamente a si mesmo o título de Marquês de Barbacena:
"Esses sonhos iam e vinham. Que misterioso Próspero transformava assim uma ilha banal em mascarada sublime? 'Vai, Ariel, traze aqui os teus companheiros, para que eu mostre a este jovem casal alguns feitiços da minha feitiçaria'. As palavras seriam as mesmas da comédia; a ilha é que era outra, a ilha e a mascarada. Aquela era a própria cabeça do nosso amigo; esta não se compunha de deusas nem de versos, mas de gente humana e prosa de sala. Mais rica era. Não esqueçamos que o Próspero de Shakespeare era um duque de Milão; e eis aí, talvez, por que se meteu na ilha do nosso amigo" (Machado de Assis, 1988b, 131-2).
No capítulos CXLVI-CXLVIII, o processo heteromórfico e o emascaramento se materializam através do trabalho do barbeiro que, a pedido de Rubião, lhe deitou abaixo as barbas, "deixando somente a pêra e os bigodes de Napoleão III". Com a máscara do sujeito imperial impressa no rosto, o personagem se transfigura no governador de Estado, que recepciona ministros e embaixadores. A transfusão de dois em um ou de
um em dois acarreta a alternação da própria pessoa de Rubião com o imperador dos franceses. O eu e o outro se tornam reversíveis no drama tragicômico da alienação da personalidade:
"Revezavam-se; chegavam a esquecer-se um do outro. Quando era só Rubião, não passava do homem do costume. Quando subia a imperador, era só imperador. Equilibravam-se, um sem outro, ambos integrais" (Machado de Assis, 1988b, 218).
A mascarada sublime e grotesca culmina no penúltimo capítulo. Abandonado pela tribo faminta dos comensais da capital, que lhe devoraram a fortuna nos comes e bebes e nos golpes financeiros, Rubião retorna à condição de exterminado. Ensandecido e sem nenhuma batata que lhe assegure a sobrevivência na sociedade dos esfomeados, volta para a cidade natal, onde acaba morrendo de inanição:
"Poucos dias depois morreu... Não morreu súbdito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça, - uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia, onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor; ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada; só ele via a insígnia imperial, pesada de ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito; o corpo caiu outra vez; o rosto conservou porventura uma expressão gloriosa.
- Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor...
A cara ficou séria, porque a morte é séria; dous minutos de agonia, um trejeito horrível, e estava assinada a abdicação" (Machado de Assis, 1988b, 276).
O apólogo do campo de batatas adquire na hora da morte de Rubião um sentido que suplanta a distinção possível de dois modos discursivos, um prescritivo e outro narrativo. Se é certo que a moralidade tem por objetivo decifrar o enigma da narrativa, também é verdade que a narrativa realiza a osmose da forma e do sentido, de modo que o matiz significativo transcende o significado prefixado na súmula didática. Encalçando os passos da revolução poética a que La Fontaine submeteu a tradição literária do apólogo ou da fábula moralizante, o narrador machadiano introduz uma discreta reflexão irônica no ditame de humanitas. Ao invés de representar realisticamente a verdade, o apólogo machadiano das batatas questiona a verdade da representação. A morte do herói coroado de nada atinge a plenitude da representação tragicômica do destino humano quando se compreende que o narrador ironiza a fórmula imperial através da utilização da gíria como recurso expressional, conforme se demonstra no belo estudo de J. Mattoso Câmara Jr. sobre a gíria em Machado de Assis (Câmara Jr.,1977, 135-143).
Câmara Jr. observa que as batatas têm um sentido pejorativo na gíria brasileira. O lingüista inicialmente argumenta que "uma batata" equivale a "uma tolice", e que o adjetivo "batatal" exprime aprovação zombeteira e petulante. Acrescenta, em seguida, que a frase "Vá plantar batatas" conota desprezo e repulsa. De acordo com essa ordem de raciocínio, o sentido do apólogo evocado por Rubião no derradeiro instante de sua
vida nada tem a ver com a lei do mais forte. A expressividade da gíria consiste em desprezar o vencedor, mandando-o "às batatas". Assim é que são jogados "num refugo geral vencidos e vencedores, dissolvidos na inanidade das lutas humanas". Enfim, o intérprete da cena do coroamento de Rubião conclui que a fórmula dos exterminadores sintetiza a única vitória possível no mundo regido pelo humanitismo: "a de um pobre louco miserável e sem norte que se julga imperador dos franceses":
"E volta a frase na aposiopese com que culmina a agonia do pobre lunático:
"- Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor..."
Temos assim a gíria como uma espécie de forma interna do preceito filosófico do Quincas Borba. Externamente há o endeusamento do vencedor; e, internamente, está a irrisão da sua vitória. Ele vai às batatas num duplo sentido - material e simbólico. E é o sentido simbólico, sutilmente estruturado na base da gíria, que transfere o apólogo para um niilismo desencantado e definitivo" (Câmara Jr., 1977, 143).
A ironia do narrador singularizado como encenador do drama tragicômico de Rubião se perfaz no reconhecimento de que a lei do contraste regula o ritmo do mundo em que se exerce a experiência do homem submetido ao regime imperial da vontade de potência. No capítulo quarenta e cinco, o narrador ironicamente conclui que a mundividência tragicômica se impõe como a forma suprema do conhecimento compatível com o estatuto ambíguo e reticente da natureza humana. Na visão armada do narrador machadiano, o otimismo triunfante dos deslumbrados e o pessimismo resignado dos atrabiliários se revelam simplórios, porque não se dão conta de que a contradição se inscreve no ser do homem e do mundo. Em consonância com o princípio da reversibilidade dos contrários, que articula a estrutura do romance Quincas Borba, as almas se revezam no rodízio universal da alegria e da dor:
"E enquanto uma chora, outra ri; é a lei do mundo, meu rico senhor; é a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo; mas uma boa distribuição de lágrimas e polcas, soluços e sarabandas, acaba por trazer à alma do mundo a variedade necessária, e faz-se o equilíbrio da vida" (Machado de Assis, 1988b, 73).
No final do romance, o narrador sublinha que a miséria do vencido e a megalomania do imperador mutuamente se implicam, gerando o supra-senso da tragicomédia da vida que se agita na gestação incessante das compulsões do desejo de realeza. De nada vale aconselhar o comedimento da razão contra a desmesura da paixão. O impulso passional da existência suplanta os argumentos racionais. No regime imperial da vontade de potência, prevalecem as personalidades emprestadas, que preferem uma coroa de nada ao desamparo social dos exterminados pela fome de humanitas. No tom sério-jocoso que notabiliza o analista sutil dos caracteres contraditórios, o narrador reconhece que a ilusão da consciência nadifica a consciência da ilusão. Por isso mesmo, solicita do leitor de sua obra uma atitude crítica, que seja capaz de perceber que a contradição constitui
um tropo vital, e não simplesmente retórico, porque pertence ao drama tragicômico da natureza humana:
"Eia! chora os dous recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma cousa. O Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens" (Machado de Assi, 1988b, 277).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CÂMARA JR., J. Mattoso (1977). Ensaios machadianos. Rio-Brasília, Ao Livro Técnico-I.N.L., 2.ed.
CANDIDO, Antonio (1970). "Esquema de Machado de Assis". In: - Vários escritos. S. Paulo, Duas Cidades, 15-32.
CANTARELLA, Raffaele (1971). "Il Dioniso delle Baccanti e la Teoria aristotelica sulle Origini del Dramma". In: Studi in Honore di Vittorio de Falco. Napoli, 123132.
CANTARELLA, Raffaele (1974). "Dioniso, fra Baccanti e Rane ". In: Serta Turyniana, ed. by J. L. Heller and J. K. Newman. Urbana, Il., 191-310.
CATAUDELLA, Quintino (1965). Satyrikon. Dioniso 39: 158-181.
DODDS, E. R.(1960). Euripides Bacchai. Oxford, At the Clarendon Press, 2. ed.
GUTHKE, Karl S. (1961). Geschichte und Poetik der deutschen Tragikomödie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
GUTHKE, Karl S. (1968). Die Moderne Tragikomödie. Theorie und Gestalt. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
HOFFMANN, E. T. A. (1957). Poetische Werke. Berlin, Bd. V.
HUGO, Victor (1976). Do grotesco e do sublime. Tradução de Celia Barretini. S. Paulo, Perspectiva.
HOY, Cyrus (1964). The Hyacinth Room: An Investigation into the Nature of Comedy, Tragedy, and Tragicomedy. New York, Knopf.
JAEGER, Werner (1966). Paideia. Tradução de A. M. Parreira. Lisboa, Editorial Aster.
LAIN ENTRALGO, Pedro (1983). Teoria y Realidad del Otro. Madrid, Alianza Editorial.
LANCASTER, Henry Carrington (1907). The French Tragicomedy: Its Origin and Development from 1551 to 1628. Baltimore, J. H. Furst Company.
MACHADO DE ASSIS (1961a).Crítica Teatral. Rio-S.Paulo, W.M.Jackson Inc.
MACHADO DE ASSIS (1961b). Crônicas, vol. 3. Rio-S.Paulo, W. M. Jackson Inc.
MACHADO DE ASSIS (1961c). Crônicas, vol. 4. Rio-S.Paulo, W. M. Jakson Inc.
MACHADO DE ASSIS (1965). Dispersos de Machado de Assis. Coligidos e anotados por Jean-Michel Massa. Riio, I. N. L.
MACHADO DE ASSIS (1969). Quincas Borba. Edição crítica elaborada por Antônio José Chediak e pela Comissão Machado de Assis e respectivio Apêndice. Rio, I.N.L.-MEC.
MACHADO DE ASSIS (1988a). "Viver!" In: - Várias Histórias. Rio, Livraria Garnier- Fundação Casa de Rui Barbosa.
MACHADO DE ASSIS (1988b). Quincas Borba. Rio, Livraria Garnier-Fundação Casa de Rui Barbosa.
MARVIN, T. Herrick (1955). Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France and England. Urbana, University of Ilinois.
OTTO, Walter F. (1969). Dionysos. Mythos und Kultus. Frankfurt a. M., Vittorio Klostermann.
PLAUTO (1952). Anfitrião. In: Plauto & Terêncio. A comédia latina. Seleção e tradução de Agostinho da Silva. Rio-Porto-Alegre-S.Paulo, Editora Globo.
RISTINE, Frank Humphrey (1910). English Tragicomedy: Its Origin and History. New York, Columbia University Press.
SCHELLING, F. W. J. (1859). Sämtliche Werke , Stuttgart u. Augsburg, Bd. V.
SEIDENSTICKER, Bernd (1978). Comic Elements in Euripides’ Bacchae . American Journal of Philology 99: 303-320.
SEIDENSTICKER, Bernd (1982). Palintonos Harmonia: Studien zu komischen Elementen in der griechische Tragödie. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
SOUSA, Eudoro de (1974). As Bacantes de Eurípides. Introdução, tradução e comentário de Eudoro de Sousa. S. Paulo, Duas Cidades.
STYAN, J. L. (1962). The Dark Comedy: The Development of Modern Comic Tragedy. Cambridge, Cambridge University Press.
VARA, Teresa Pires (1976). A mascarada sublime (Estudo de Quincas Borba). S. Paulo, Duas Cidades-Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia.
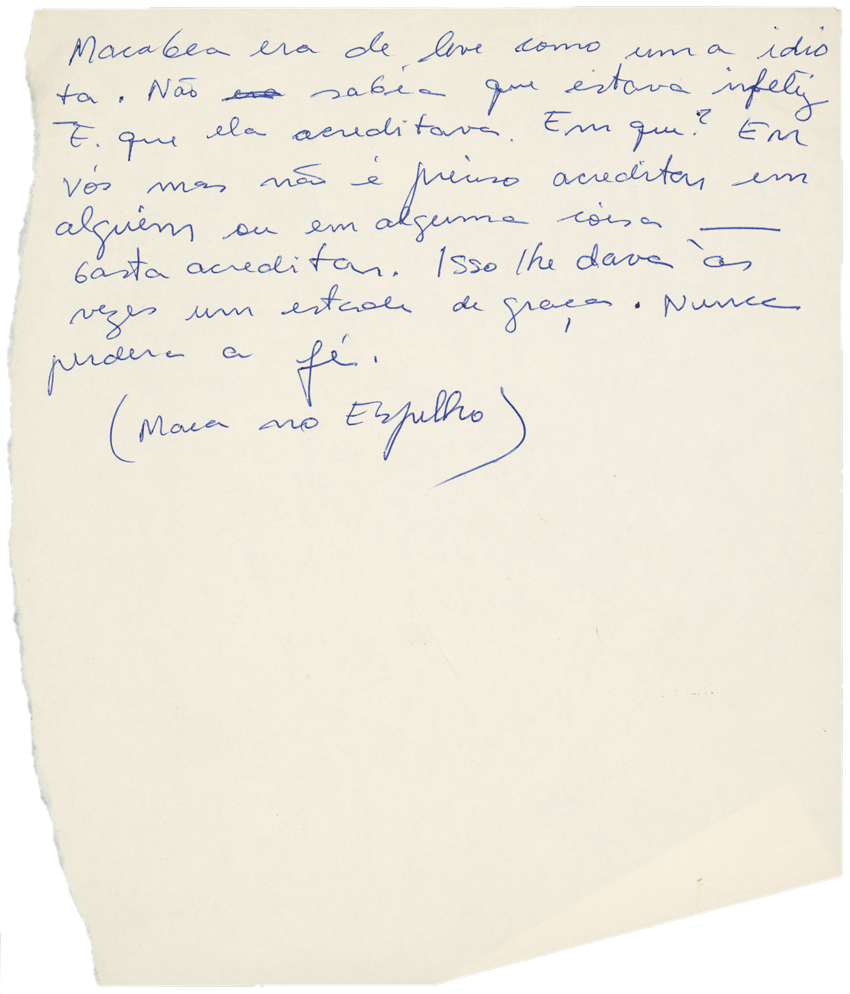
 Edward Albee in his home in New York. The playwright, who will turn 80 in March, says he has no intention of stopping writing. "I'll survive on pure orneriness," he says. The small, disintegrating painting - delicate flowers flaking off silk - is the work of a French master, but the story about it is pure Edward Albee. Hanging in his TriBeCa loft, almost unnoticeable amid a forest of African sculpture and walls of bold abstractions, it is, Albee said during a conversation there recently, a puzzle, or rather the key to one. He bought it ages ago, thinking it some kind of sketch or study, only to discover much later the existence of a larger painting with a hole in its middle, of which his flowers were clearly the missing, central piece.
Edward Albee in his home in New York. The playwright, who will turn 80 in March, says he has no intention of stopping writing. "I'll survive on pure orneriness," he says. The small, disintegrating painting - delicate flowers flaking off silk - is the work of a French master, but the story about it is pure Edward Albee. Hanging in his TriBeCa loft, almost unnoticeable amid a forest of African sculpture and walls of bold abstractions, it is, Albee said during a conversation there recently, a puzzle, or rather the key to one. He bought it ages ago, thinking it some kind of sketch or study, only to discover much later the existence of a larger painting with a hole in its middle, of which his flowers were clearly the missing, central piece.