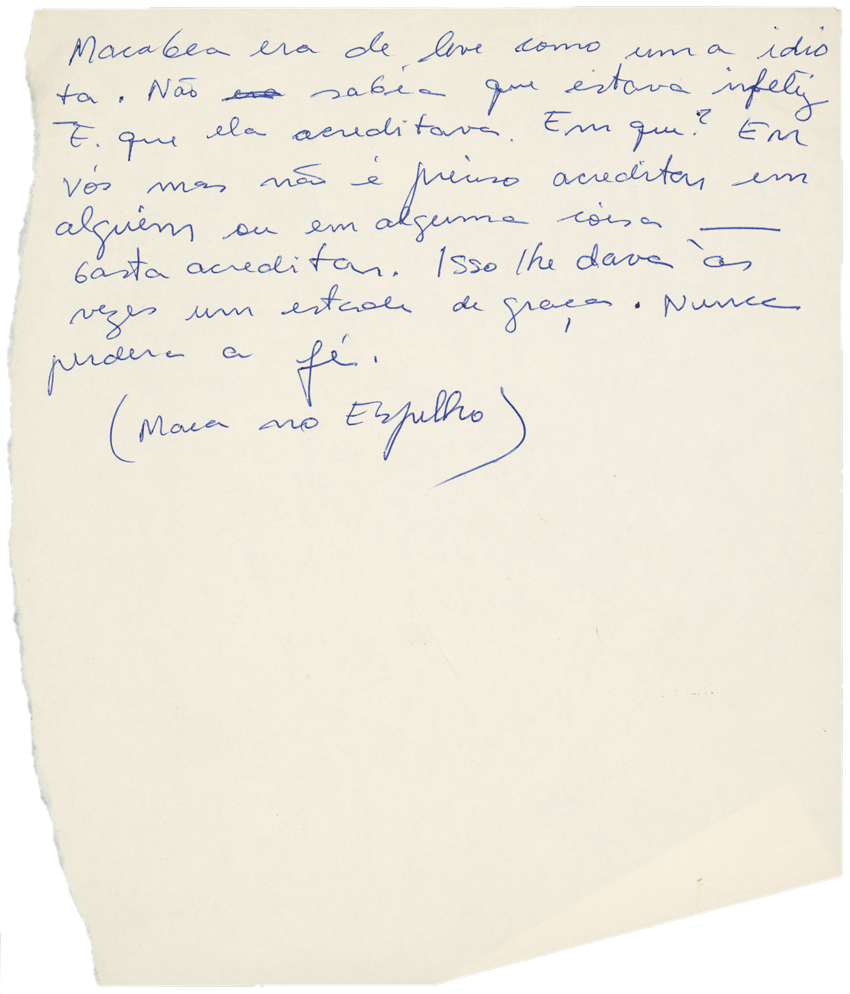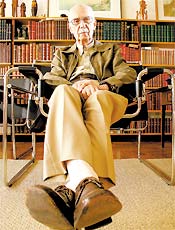Artigo de Yan Michalski publicado em 1984
Esse texto foi publicado originalmente nos Cadernos de Teatro do Tablado, na edição de número 100, de janeiro/junho de 1984.Quando, em 1963, fui fazer minha estréia como crítico do Jornal do Brasil, ouvi um solene sermão do então Secretário do Caderno B, Nonato Masson, sobre a responsabilidade que eu estava assumindo. Ele me dizia que a página 2 do Caderno, que na época reunia diariamente as diversas colunas especializadas em arte e cultura, era uma espécie de menina dos olhos do jornal; que por ela haviam passado alguns dos mais brilhantes expoentes do jornalismo brasileiro; que a empresa era particularmente exigente na escolha dos colaboradores dessa página de enorme prestígio; e, portanto, que eu teria de caprichar muito para mostrar-me à altura dessa admirável tradição.
Caprichei como pude durante 19 anos. Quando, em 1982, comecei a cuidar da minha aposentadoria, ninguém na redação me falava mais do prestígio das colunas especializadas em críticas de artes. Pelo contrário, nas reuniões dos colunistas com os nossos superiores hierárquicos insistia-se no argumento de que o crítico se teria tornado, na imprensa atual, uma instituição ultrapassada, e teria de ser substituído por uma misteriosa nova figura denominada repórter-crítico. E a rádio JB irradiava chamas conclamando os leitores do jornal a não perderem, nas páginas do Caderno B, os fascinantes comentários "dos seus críticos mais especializados (grifo meu): os próprios leitores." Esses críticos mais especializados eram os que mandavam para publicação requintados comentários opinativos do tipo "adorei", "desempenho magistral", etc.; na sua maioria, disfarçados sob nomes fictícios, estavam os próprios produtores ou outros integrantes dos espetáculos assim criticados, que não seriam tolos a ponto de perder a publicidade gratuita e a autopromoção que lhes era oferecida na badalada coluna intitulada A Crítica do Leitor.
Entre o pólo inicial, do alto prestígio e generoso espaço atribuído à critica, e o extremo oposto, do contundente desprestígio e espaço cada vez mais racionado, situa-se um progressivo esvaziamento das funções da crítica teatral (e não apenas teatral) na imprensa brasileira. As duas situações acima resumidas referem-se ao JB, apenas porque conheço mais de perto as formas que o processo assumiu nesse órgão (onde, diga-se de passagem, encontrei durante grande parte desses 19 anos as condições de trabalho mais estimulantes as quais um crítico brasileiro pode aspirar); mas o processo, longe de restringir-se a um determinado veículo, é generalizado. Ainda outro dia, um renomado crítico de O Estado de São Paulo (diário que durante muito tempo rivalizou com o JB quanto ao prestígio das suas colunas críticas) contou-me que recentemente esperou mais de 50 dias até que uma de suas críticas, ocupando um espaço de não mais de 40 linhas, fosse publicada.
É provável que relativamente poucos leitores leigos se tenham dado bem conta desse processo de esvaziamento que a crítica tem sofrido ultimamente. E é provável que mesmo os artistas não tenham, no seu conjunto, percebido essa evolução com a devida clareza: pelo menos não se tem notícia de qualquer manifestação de preocupação, por parte da categoria, para com os declinantes destinos da crítica teatral brasileira. Manifestação, aliás, que seria difícil de se esperar de uma classe que, mesmo quando a crítica vivia seus períodos de esplendor, em geral só tomava publicamente conhecimento de sua existência quando determinados profissionais do palco, eventualmente feridos na sua vaidade por comentários menos elogiosos a alguns de seus trabalhos, corriam às televisões ou escreviam aos jornais para protestar contra a alegada incompetência e/ou má fé dos críticos; quando o exercício da crítica entrou em efetivo declínio, ouviram-se vozes isoladas reclamando da diminuição da cobertura dada ao teatro; mas estas preocupavam-se mais com a diminuição do espaço de divulgação gratuita oferecida aos seus espetáculos, através de reportagens, entrevistas, etc., do que com o enfraquecimento do debate opinativo proposto pelas colunas.
Tudo bem: faz parte de uma respeitável e internacional tradição da categoria artística chiar contra a crítica e afirmar que ela não tem importância. É provável que ela não tenha mesmo, e poucas vezes tenha tido no passado, o tipo de importância que os artistas, segundo dizem, gostariam que ela tivesse: que ela abrisse "novos caminhos" diante do teatro, ou revelasse ao ator, diretor etc. como ele deve trabalhar, e que erros deve corrigir. Tal missão, queiram os artistas ou não, não faz e nem pode fazer normalmente parte das funções das colunas da imprensa não especializada, que por natureza se dirige ao leitor leigo e tenta abrir com ele um diálogo cujo âmbito é delimitado precisamente pelas características leigas do leitor. Ainda assim, e dentro dessas limitações, uma crítica sólida, competente e assumidamente opinativa e analítica é uma aliada importante do teatro, em qualquer época e lugar: ela cria em torno dele um clima de polêmica e discussão vital para o seu desenvolvimento, e contribui para formar no público uma curiosidade e um grau de exigência que, a longo prazo, só podem resultar saudáveis para o teatro.
É verdade que a tradição da crítica teatral brasileira não é especialmente lisonjeira: com algumas exceções, entre os quais escritores do gabarito de um Arthur Azevedo ou de um Machado de Assis, que chegaram a ser críticos atuantes, no seu conjunto ela assumiu, no passado, uma linha paternalista e acomodada que pouco podia contribuir para a abertura de uma discussão fértil em torno do teatro. Mas não foi por eufemismo que mencionei acima "período de esplendor" da nossa crítica. Quando comecei a fazer teatro, em 1955, e mesmo quando comecei a criticar, em 1963, Décio de Almeida Prado dava prosseguimento, em São Paulo, à memorável tarefa de analisar em profundidade, através dos seus exemplares artigos no Estadão, o movimento do TBC, seus filhotes, e seus opositores, que desde o fim da década de 40 vinha mudando a mentalidade do teatro brasileiro; também em São Paulo, Sábato Magaldi deixava cada vez mais evidente a solidez do seu talento e a lucidez dos seus pontos de vista; no Rio, Bárbara Heliodora, apoiada numa formação erudita e numa inovadora contundência irônica, enfiava saudáveis alfinetadas em muitos balões excessivamente inflados; Paulo Francis levava a contundência a extremos ainda bem mais radicais, ao mesmo tempo em que abria em torno do teatro, pela primeira vez, uma discussão eminentemente política, sem prejuízo da pertinência das suas colocações estéticas; profissionais inegavelmente conhecedores do assunto e a ele profundamente dedicados, como Gustavo Dória ou Henrique Oscar, ajudavam a iniciar o público em muito segredos do teatro, e estimulavam o seu interesse. O teatro brasileiro, que queimava etapas na sua evolução, era diariamente discutido nos jornais, que lhe abriam generoso espaço, com uma vitalidade e um profissionalismo à altura do seu progresso.
Numa etapa imediatamente posterior, ou a partir de 1964, e com maior nitidez a partir de 1968, a crítica viveu outro capítulo significativo, embora num contexto diametralmente oposto ao anterior: num momento em que o teatro se via esmagado pela mais brutal ação da censura e de outras formas de repressão de toda a sua História, a crítica – embora ela também, como todo jornalismo, sujeita a pressões impiedosas – assumiu bravamente a defesa da liberdade de expressão do teatro, e cumpriu um papel significativo neste campo de batalha. Foi, também, importante aliada do teatro ao denunciar à opinião pública as manobras oficiais que consistiam, por exemplo, em colocar à frente do Serviço Nacional de Teatro, medíocres burocratas sem nenhuma ligação com a vida teatral, mas de estrita confiança do sistema governante. Ao mesmo tempo, estimulada por um teatro que, apesar dos obstáculos, vivia um período de radical renovação formal, a crítica produzia um louvável esforço no sentido de adaptar seus critérios de análise às propostas inovadoras que se sucediam num ritmo vertiginoso, e de separar o joio do trigo apoiando as experiências baseadas num pensamento original e criativo, e desmascarando as imitações ou porralouquices que apareciam abundantemente na sua trilha. Alguns saudáveis choques de opiniões entre artistas e críticos (exemplo: o questionamento, por Anatol Rosenfeld, na exaltação do irracionalismo no teatro de José Celso Martinez Corrêa) colocaram a discussão crítica da época em níveis bastante excepcionais, e ajudaram a manter acesa a chama da polêmica em torno do teatro. Apenas 15 anos depois, a crítica teatral brasileira se vê reduzida a pequenos comentários opinativos sobre espetáculos isolados, ainda tolerados, mais do que valorizados e prestigiados, em alguns raros diários e revistas semanais. Vários órgãos de imprensa que tinham tradição no ramo desapareceram; outros extinguiram suas colunas de crítica; e mesmo os que ainda mantêm tais colunas com alguma regularidade, concedem-lhes um mini-espaço dentro do qual fica quase impossível abrir uma discussão crítica instigante, em alguns casos desestimulam tomadas de posição assumidamente opinativas, ou até determinam ao crítico normas de conduta jornalística que tolhem a sua liberdade de manifestação. O teatro só consegue ganhar espaços mais extensos quando serve de assunto mais "informativo" do que "crítico", ou seja, quando o jornalista é mero transmissor dos pontos-de-vista expressos por artistas ou por freqüentadores, sem posicionar-se ele mesmo enquanto autor de enfoques pessoais. Com isso, o peso da crítica, como é natural, diminui consideravelmente.
Não se culpe por isso a jovem geração dos críticos que, pelo menos no Rio, assumiu por completo, nos últimos anos, os espaços que ainda sobram, depois da progressiva retirada dos veteranos mais experientes. (Em São Paulo, prosseguem ainda em atividade dois desses veteranos, Sábato Magaldi e Clóvis Garcia, bem como alguns profissionais bastante tarimbados da geração intermediária: Ilka Marinho Zanotto, Mariângela Alves de Lima, Jefferson Del Rios). É verdade que a maioria destes novos colunistas chegou à crítica sem ter passado por uma formação especializada, no campo do teatro, comparável àquela de que dispunham os profissionais da geração anterior, e o seu compromisso com o teatro talvez não seja tão visceral quanto era o nosso. Mas nas condições atuais eles dificilmente poderiam fazer muito mais do que fazem. A limitação da sua atuação deve-se sobretudo a fatores fora de seu alcance, que se situam, com igual peso, no campo da imprensa em que eles escrevem e nos campo do teatro a que eles assistem.
O desanimador contexto em que o crítico vive dentro dos órgãos de imprensa já foi esboçado acima. Mas não vamos atribuir precipitadamente às empresas jornalísticas arbitrárias intenções de criticocídio. Do seu ponto de vista empresarial, o processo tem todo um sentido, sobre o qual vale a pena refletir.
Nos tempos de vacas gordas, papel barato, lucro relativamente fácil e uma tradição beletrística, que vinha de longe na imprensa brasileira, os jornais podiam facilmente investir espaço numa discussão extensa sobre o teatro (ou o cinema, as artes plásticas, a música, etc.). Tal investimento era compensado por uma aura de prestígio intelectual que contribuía positivamente para a imagem do órgão. Quando a barra começou a pesar, e os jornais começaram a reduzir o número de suas páginas e a diminuir de todas as maneiras os seus custos operacionais, a preocupação com a eficiência passou a sobrepor-se a todas as outras considerações. No reino das comunicações, quem diz eficiência quer dizer, antes de mais nada, índices de consumo. Ora, num país em que a parcela da população que vai ao teatro é estatisticamente desprezível, é evidente que num jornal que se propõe a cobrir todos os setores da atividade a coluna de teatro não pode deixar de ser infinitamente menos lida do que as matérias dedicadas à política, à economia, aos esportes, ao consumo, aos crimes, aos problemas de comportamento, etc. Perante qualquer critério que se preocupasse em adequar os espaços setorias aos respectivos índices de leitura, o tipo de trabalho que Décio de Almeida Prado sempre desenvolveu no Estadão, e que eu cheguei ainda a adotar no JB, com qualquer espetáculo de importância sendo comentado através de uns três artigos sucessivos de até cinco laudas cada, só podia mesmo ser considerado hoje uma aberração. Daí a reduzir drasticamente o espaço disponível e o apoio dados à crítica, foi apenas um passo.
Se sob esse ponto-de-vista o processo até que tem uma certa lógica, fica bem mais difícil entender as razões pelas quais essa redução do espaço veio acompanhada de uma ofensiva anti-analítica e anti-opinativa. Implicitamente, o crítico passou a ser encarado como um manipulador da opinião pública e detentor de um poder abusivo – qualificações que fazem sentido na boca de um artista magoado, mas não na cabeça de um órgão de imprensa que, nas suas outras seções (economia, política, etc.), não se cansa em valorizar o jornalismo opinativo, e sabe que a qualidade dos comentários especializados e bem fundamentados, tanto ou mais do que as informações objetivas, é que faz a diferença entre o bom jornal e o jornal menos bom.
Por sua vez, o leque das realizações teatrais hoje oferecido à apreciação dos críticos também se revela pouco favorável à existência de uma crítica de qualidade. A tremenda pulverização quantitativa que o teatro sofreu nas últimas décadas tornou o trabalho muito desgastante e desestimulante. Enquanto no início da minha carreira havia no Rio não mais de 8 a 10 espetáculos simultaneamente em cartaz, esta média triplicou desde então. O crítico que se proponha a fazer uma cobertura razoavelmente completa é obrigado a passar mais da metade, e em certas semanas quase a totalidade, das suas noites no teatro. Inevitavelmente, a grande maioria desta enxurrada de lançamentos está literalmente abaixo da crítica, no sentido de não comportar nenhuma discussão minimamente instigante. Isso provoca no crítico, além de uma saturação que se torna insuportável no correr dos anos, uma irritante sensação de perda de tempo, pois ele sabe que a sua função, diante da quase totalidade dos espetáculos, praticamente não tem sentido, nem chance de ser exercida criativamente. Por outro lado, mesmo se considerarmos os espetáculos de nível, digamos, profissional, o panorama atual oferece muito poucas propostas que possam levar ao exercício de uma crítica estimulante e útil. A crítica é, basicamente, debate de idéias. Numa fase em que o teatro, ressalvadas as raras-exceções, se recusa a lançar idéias – sejam elas temáticas ou formais – e se limita, majoritariamente, a aplicar fórmulas, em muitos casos já testadas em outras e mais desenvolvidas praças, e meramente remontadas aqui, às vezes seguindo uma mise-en-scène já trazida pronta lá de fora, o trabalho do crítico se esvazia automaticamente: ele não tem o que questionar nem como tornar-se útil ao leitor, no sentido de tentar enriquecer o seu eventual futuro contato com a encenação. Revendo a lista dos quase 200 espetáculos que os meus ex-colegas criticaram desde que, há um ano e meio, pendurei as chuteiras, vejo que não mais de 10, estourando uns 15, me dariam real vontade de comentá-los. Não vejo, tampouco, no horizonte qualquer causa importante em que o crítico possa sentir-se estimulado a engajar-se hoje, em benefício do teatro como instituição, como era o caso da luta pela implantação de uma dramaturgia nacional moderna e comprometida com os problemas do país por volta de 1960, ou a luta contra a censura e o arbítrio na etapa subseqüente.
Nestas condições, assinar uma coluna teatral, na imprensa brasileira de hoje, é muito mais um emprego como outro qualquer do que uma missão vocacional. Ainda por cima, nas condições atuais do mercado de trabalho, um emprego inseguro, ameaçado, e na maioria dos casos provavelmente mal pago, pelo menos em relação aos sacrifícios que exige. Nada indica que esta situação possa modificar-se para melhor num futuro previsível. A crise econômica deverá apertar as empresas jornalísticas cada vez mais, e as colunas, tais como as de que nos ocupamos aqui, dificilmente deixarão de estar entre as suas primeiras vítimas. Assim sendo, a discussão crítica do teatro tenderá a ser cada vez mais substituída por um meramente informativo registro jornalístico. Diga-se de passagem, esta tendência não se manifesta só no Brasil, mas existe também, embora de modo talvez menos extremo, até mesmo em países europeus de admirável tradição teatral.
Nesses países, porém, existe uma alternativa para os talentos que se propõem a investir estudo, espírito crítico, fidelidade ao teatro e capacidade de escrever bem numa carreira intelectualmente gratificante. Refiro-me às revistas especializadas que, por se dirigirem a priori a um leitor interessado e iniciado, podem abrigar a discussão num nível ensaístico, que permite um aprofundamento incomparavelmente maior sem as limitações de espaço e de atualidade imediata que prevalecem no jornalismo não especializado.
No Brasil, o jornalismo ensaístico no campo do teatro não vingou ainda, sobretudo porque o potencial de mercado para revistas especializadas em teatro sempre foi, e continua sendo, muito fraco pra sustentar tais publicações. As que tentaram a sua sorte tiveram, nas últimas décadas, existência curta, a começar pelo excelente Teatro Brasileiro da década de 50, e terminando com Ensaio/Teatro, que encerrou sua trajetória no ano passado. Tendo sido coordenador dessa última revista, pude dar-me conta da virtual inviabilidade de sobrevivência de uma publicação como essa em bases puramente comerciais, sem um substancial patrocínio oficial ou particular.
Dentro desse panorama, a façanha dos Cadernos de Teatro, que chegam agora ao seu número 100, é um fenômeno que dá margem a alegria e esperança. Embora sua opção editorial não tenha até hoje favorecido a discussão crítica, só o fato de uma revista dedicada ao teatro alcançar um marco tão significativo é muito animador. E quem sabe se num futuro, o debate crítico sobre o teatro, cada vez mais banido da imprensa não especializada, não poderá encontrar um refúgio nas páginas da persistente publicação de O Tablado, iniciando aqui, num nível e sob uma forma diferentes, uma nova etapa da sua existência.