| O realismo do 'Especula-cula' |
|
Entrevista | Silviano Santiago Escritor busca textura realista em novo romance, no qual um milionário passa vida a limpo Juliana Krapp Movido por uma curiosidade nata, Silviano Santiago trafega em frentes disparatadas. Do "eu escarrado" dos poemas à despersonalização dos ensaios acadêmicos, o jeito Especula-cula – seu apelido de infância – o conduz a zonas eruditas e populares, tornando-o um dos mais produtivos intelectuais do país. Ainda assim, em Heranças , romance que chega hoje às livrarias, o escritor exibe uma veia ainda inédita em sua obra: a escrita realista. Numa cobertura, diante do mar de Ipanema, um milionário mineiro passa a limpo sua vida de poucos escrúpulos. É o mote para que Silviano derrame uma ironia rara no panorama nacional, ao mesmo tempo em que faz uma crítica mordaz aos costumes burgueses. O que o levou a escrever Heranças? – A história é inspirada na questão da ambição, do acúmulo de capital. Temas tratados no Rei Lear, de Shakespeare. Li muito esta peça em versões modernas, outras comentadas. Não que tenha influência direta sobre o Heranças: eu queria apenas captar aquele universo, e transportá-lo para a atualidade. Fale sobre Walter, o protagonista do romance. – Ele tem de ser lido com certa ironia. Porque, como vivemos num tempo neoliberal e numa sociedade de consumo, talvez possa até parecer heróico a muitos leitores. Walter é um representante da alta burguesia. E, na literatura brasileira, há falta de personagens burgueses. A tendência é retratar a miséria e heróis populares. Mas Walter desde o início quis ser rico. E foi rico primeiro como herdeiro, tornou-se mais rico ainda na construção civil, depois no mercado de capitais. Além disso, era um homem sedutor, que teve uma enorme infelicidade na juventude, ao contrair uma doença venérea. Daí esse ódio pela idéia de deixar descendentes. É um livro pesado. É um livro sobre o aborto. O pesquisador Wander Melo Miranda, em texto sobre o livro, afirma que o senhor retoma a tradição cínica do realismo de Machado de Assis, e a mistura ao melodrama de Nelson Rodrigues. Concorda? – Sim. Queria fazer um romance realista. Eu nunca havia escrito nada assim, e os grandes autores que admiro não têm o estilo realista: Clarice Lispector, Guimarães Rosa. E mesmo Graciliano Ramos que, apesar de parecer, não é realista. Sua frase é realista, mas o parágrafo, não. Este livro é então a busca de uma escrita realista, que é um pouco gorda, e não a escrita esquálida de Graciliano Ramos, na prosa, e de João Cabral de Melo Neto, na poesia. É excessiva, às vezes repetitiva, como uma maneira de ganhar o leitor, porque ele tem aí momentos de descanso, nos quais não precisa pensar tanto. Nessa busca descobri que o grande modelo da escrita realista é Machado de Assis. Foi outro autor que eu li um bocado enquanto escrevia. Queria ganhar dele uma frase, um estilo, um jeito de narrar. E, por coincidência, na Flip do ano passado, me aproximei bastante de Nelson Rodrigues (o autor homenageado na Festa Literária Internacional de Paraty de 2007). Os comentários do narrador, dirigidos ao leitor, são marca desse realismo? – Sim, nesse sentido o narrador é bem machadiano. Ele se justifica sempre com o leitor. Mas há um grande perigo nisso: essas explicações, em geral, são fajutas. Por isso o romance possibilita as duas leituras às quais me referia. Se você toma ao pé da letra as palavras do narrador, vai até achá-lo um herói. Mas se você consegue corroer as suas palavras, vai vendo que se trata de um indivíduo pouco escrupuloso, safado, aproveitador. É fácil ser irônico? – Acho que a ironia é como a varicela: se você é atacado quando criança, as marcas ficam para a vida inteira. É uma questão de temperamento, de visão de mundo, de ponto de vista. E é talvez a principal arma do romancista para falar a verdade. Porque a ficção, a priori, é um discurso inventado, que não precisa ter respaldo na realidade. E a ironia é um determinado mecanismo estilístico que leva o leitor a refletir sobre a linguagem e, assim, atingir com mais intensidade o real. Se você descreve o real tal e qual, ninguém compra, parece falso. E chato. O senhor é um dos pensadores mais produtivos do Brasil atual. Qual o segredo? – Um temperamento esquizofrênico. Isso é inegável. Não acho que seja todo o mundo que tenha essa habilidade – e não estou dizendo que ela é boa ou má – para lidar com coisas tão disparatadas. São disparatadas mesmo? – São. Você até pode misturá-las. Tenho romances ensaísticos e ensaios romanceados. Mas, quando pego um trabalho como a notação das cartas de Carlos Drummond de Andrade, preciso de uma enorme despersonalização, difícil para um ficcionista. Ao fazer anotações sobre as cartas íntimas de um indivíduo que pouco conheci, não posso deixar que a minha personalidade influencie. Como despersonalizar-se? – Não sei, mas sei que faço uma despersonalização total. E aí, de repente, surge exatamente o oposto em um poema: há, ali, uma expressão cutânea da minha sensibilidade. Os poemas são o meu eu escarrado. É um processo quase febril, próximo ao delírio. Uma espécie de doença do corpo, que precisa se manifestar. A poesia é essa doença, um envelhecimento. E ela se aproxima muito do romance, que é, também, passar pela experiência de querer conhecer o envelhecimento. Como é que os corpos, ao ganharem experiência, perdem um pedaço da vida? Esse é um perde-e-ganha estranho, inerente à vida. Para ter experiência, você perde um pedaço, não ganha. E o ensaio, como é? – É uma questão de simpatia, uma relação com o outro. Ao contrário do romance onde, no fundo, todos os personagens são você. Madame Bovary c'est moi. Não adianta querer escamotear, dar o nome de Paulo, Maria, Teresa. Já o ensaio é uma relação amorosa. Antes de mais nada, para escrever um ensaio, tenho que desenvolver simpatia pelo objeto. E você controla esse gestual amoroso pela abordagem metodológica. O senhor circula por diferentes áreas do saber. Isso é importante para a literatura? – Não, é uma questão de opção. Outro dia eu estava lendo um livro da Susan Sontag, no qual seu filho declara que a principal característica dela é a avidez. No meu caso, é a curiosidade. Quando menino eu tinha o apelido de Especula-cula que, em Minas, é como chamam os meninos muito curiosos. Minha curiosidade me leva a ter um elenco de leituras muito variado, e às vezes até sem parentesco. O que me move é a curiosidade, que é sempre pelo diferente, e não pelo parente. Mas observando a sua obra parece que há, sim, parentesco entre as áreas. – Porque o parentesco é construído. Deixo de lado mil e uma coisas para estabelecer determinados parentescos entre um filme, por exemplo, e determinado objeto de estudo que me interessa. Mesmo construído, o parentesco é produto de uma curiosidade disparatada. As coisas não estão organizadas. Pelo contrário. Estão em total anarquia pelo universo do saber. O senhor acredita que há, no meio acadêmico, um certo preconceito por esse trânsito? – Às vezes. E sobretudo em uma academia que está se tornando muito disciplinar. E está se tornando disciplinar pelo pior motivo, que são as divisões internas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Para ganhar uma bolsa do CNPq, há de se ter uma produção extremamente disciplinar. Aí se confunde a disciplina exigida com sua própria vida acadêmica. No fundo, é o CNPq que está limitando a produção acadêmica no Brasil, com diretrizes pobres, aparentemente radicais. O senhor é conhecido por lançar luz a elementos da cultura popular em uma área como a crítica literária, geralmente presa a parâmetros eruditos. Mas podemos, ainda hoje, falar em cultura popular e em cultura erudita? – É bom sempre delimitar as coisas, se quisermos ser extremamente racionais. Mas desde o modernismo brasileiro, e sobretudo agora em relação a isso que chamamos pós-modernidade, existe uma mistura de estilos, mentalidades, criatividades – que passou, inclusive, a ser típica. No meu romance O falso mentiroso, uso muitos palavrões. Acho que hoje, mais do que nunca, o palavrão deixou tanto de ser masculino quanto de ser de elite. No entanto, tornou-se comum entre mulheres e nas classes populares. Ou seja, o palavrão entrou com tal força em dois universos no qual ele não era privilegiado, ao mesmo tempo em que perdeu força no universo anterior. Esses trânsitos da linguagem, entre gêneros e classes, me fascinam. O que o senhor acha da estética da violência, que marca nossa produção recente? – Acho que foi um caminho extremamente produtivo em determinada época. Mas, desde que se tornou quase um receituário, é chegado o momento de abandoná-lo. Passou a ter uma duplicação no jornalismo tanto impresso quando televisivo, há uma concorrência entre o produto de arte e o próprio jornalismo. Aquele puxão inicial, que era positivo, foi perdendo seu sentido e sua força. E a chamada literatura de periferia? – Nós intelectuais, pouco a pouco, deixamos de ser mais sociológicos, a partir da década de 80, e tornamo-nos mais e mais antropológicos. E, à medida que viramos antropólogos, manifestações que eram desclassificadas pelos estudos literários e mesmo lingüísticos passaram a ser objeto de coleta, de admiração e de culto. Então a periferia virou um objeto de culto? – Sim. E isso é bom ou ruim? – Como eu sou iconoclasta, isso é ruim. Mas, se eu não fosse iconoclasta, seria ótimo. |
*************************************************************************************
................................
ENTREVISTA COM SILVIANO SANTIAGO
JORNAL DO BRASIL 28 DE JULHO DE 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
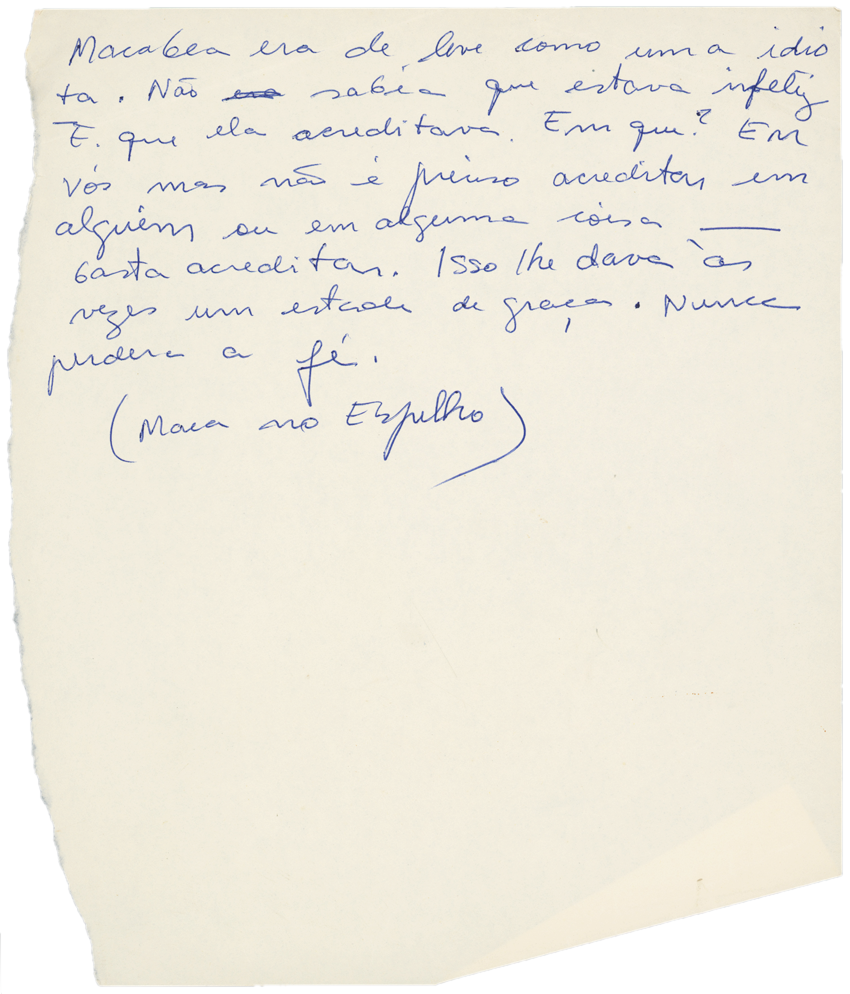
Nenhum comentário:
Postar um comentário